Texto baseado no relato de acontecimentos, mas contextualizado a partir do conhecimento do jornalista sobre o tema; pode incluir interpretações do jornalista sobre os fatos.
Como sobreviver ao fim do mundo?

Na semana em que a covid-19 bateu novo recorde de mortes no Brasil (foram 10 mil mortes em 7 dias), ouvi de um amigo querido o desamparo verbalizado: "parece que as coisas estão todas desmoronando".
Esse amigo, geralmente, traz, nos olhos, a esperança; na boca, o sorriso, e está sempre na linha de frente dos que querem um mundo melhor. Hoje, no entanto, sua energia foi drenada pela necropolítica cotidiana.
Não foi apenas um caso, nem foram histórias distantes lidas nos jornais. Vi gente muito próxima ralando para comprar a feira da semana (o aluguel atrasado já virou rotina). Com o fim do auxílio emergencial, gente da minha estima faz os bicos que surgem para garantir o de hoje, sem pensar muito no amanhã.
Os oceanos virtuais das redes sociais não são muito mais animadoras que a intimidade do "zap". Me preocupei com relatos de depressão profunda de quem está há um ano e meio isolado, desempregado, doente, cansado de ver os recordes de cadáveres se acumulando em novas manchetes dos jornais.
"Parece que estamos no fundo do poço, mas esse fundo é sempre mais fundo", resumiu alguém em uma reunião de trabalho, que se tornou terapia coletiva; "sessão do descarrego".
Eles sobreviveram ao fim do mundo
"No ciclo das navegações quando se deram as saídas daqui [Portugal] para a Ásia, África e América - é importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceram sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos.
O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. [...] Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. [...] Assim como nós estamos hoje vivendo o desastre do nosso tempo ao qual algumas seletas pessoas chamam Antropoceno. Para a grande maioria está sendo chamado de caos social, desgoverno geral, perda de qualidade no cotidiano, nas relações, estamos todos jogados nesse abismo."
A declaração do líder indígena e escritor Ailton Krenak, para os portugueses Rita Natálio e Pedro Neves Marques, acabou tornando-se um dos trechos mais reveladores de seu clássico "Ideias para adiar o fim do mundo" (Companhia das Letras, 2019).
A grande maioria dos povos originários do continente que chamamos América (homenagem a um dos líderes da invasão e extermínio dessas terras) já viveu seus apocalipses. Já viveu epidemias desconhecidas que mataram não 0,03% da população, mas 90%. Já viveu genocídios e etnocídios que acabaram com suas casas, suas culturas, suas línguas, sua espiritualidade e seu modo de viver. E, muitos deles, resistiram - ou "renasceram" anos depois.
"O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder.", diz Krenak em "Ideiais para adiar o fim do mundo". Esperançoso, o homem eleito como intelectual do ano em 2020 vê a crise de clima, a crise financeira e a pandemia como uma possível crise de um modo consumista de vida, um modo que privilegia uma minúscula parcela de humanos.
Apesar de viverem seus apocalipses há 500 anos, algumas dessas nações ainda se preocupam com o fim do mundo dos brancos. Ainda se preocupam em "manter o céu no firmamento" para que ele não nos esmague a todos: "A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. (?) Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar", diz o xamã yanomami Davi Kopenawa em palavras registradas pelo antropólogo francês Bruce Albert no livro "A queda do céu" (Companhia das Letras, 2015).
Para os yanomamis a "Hipótese de Gaia", surgida na Inglaterra nos anos 1970, que explica a Terra como um ser vivo cujos elementos estão conectados, nada tem de novo. Nem a percepção "revolucionária" do cientista alemão Alexander von Humboldt (1769 — 1859) de que fazemos parte da "natureza" e tudo no planeta está conectado. Na verdade, ambas parecem uma repetição pálida do complexo pensamento milenar que Kopenawa simplifica de maneira elegante: "Senão a defendermos [a floresta], morreremos com ela."
Semeando sonhos novos em tempos de pesadelos
Não é à toa que o interesse pela experiência dos povos indígenas tenha explodido nos últimos cinco anos neste Brasil que bate recorde de desemprego.
Deprimidos pela crise do capitalismo e órfãos de uma esquerda que ainda não soube se reorganizar, olhamos para o horizonte sem esperança. Depositamos confiança demais na felicidade que viria com o acesso às universidades, às viagens de avião, ao tênis importado, ao smartphone que facilita nossa vida e ao projeto de exploração marciana de Elon Musk.
Acreditamos no "progresso" como evolução natural de um caminho "único" que a humanidade deveria seguir. Esquecemos de celebrar o milagre da vida que já ocorre desde sempre, mas que evolução é essa que buscamos para a vida?
"A vida não tem utilidade nenhuma. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela, mas isso é uma besteira. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia: alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço; tudo isso é uma historinha ridícula. Por que insistimos em transformar a vida em uma coisa útil? Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos, e não ficar barganhando a sobrevivência. Se continuarmos comendo o planeta, vamos todos sobreviver por só mais um dia.", ensina Aílton Krenak em seu mais recente livro "A vida não é útil" ( Companhia das Letras, 2020).
É interessante que Krenak não parte de uma utopia planejada que ainda não existiu (como o comunismo ou o anarquismo). Krenak parte de modos de vida milenares de nações como os Yanomami que são a prova viva de que existem opções de sociedade fora da monocultura de sonhos e esperanças, como se apresenta o capitalismo hoje. E apesar de toda insistência dos ocidentais há 500 anos, esses povos dizem "não, obrigado, não queremos seu progresso, não queremos seu sucesso, só queremos ser deixados em paz". Se nosso modo de vida fosse tão superior, por que precisamos empurrá-lo goela abaixo dos outros com armas, prisão, extermínio, conversão forçada e sequestro de crianças?
Como a mãe que cria uma barraca de brincadeira para passar suas últimas horas de vida abraçada com o filho diante do apocalipse iminente no filme "Melancolia", de Lars Von Trier, parece que quem já vivenciou seu fim do mundo particular entende a importância do presente, do agora e do fruir da vida. Enquanto contamos os mortos neste pesadelo atual, não deveríamos renovar o sonho de outro mundo possível?



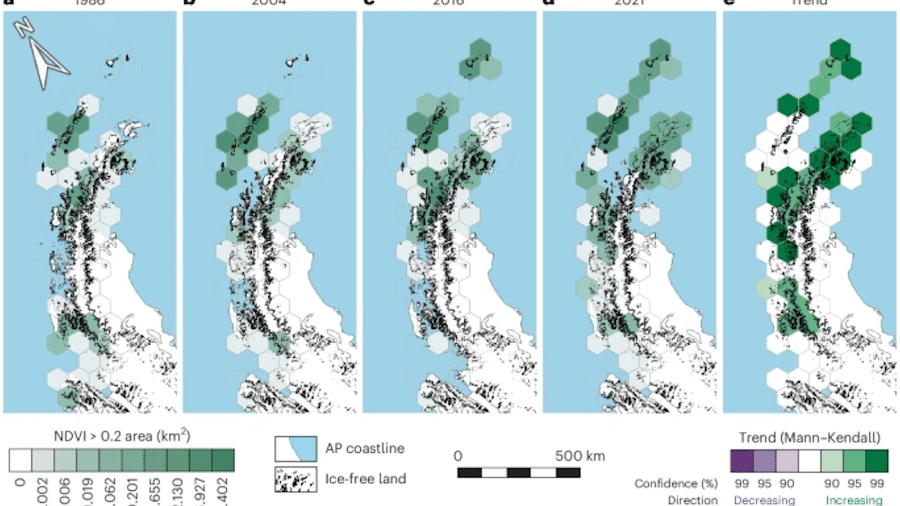












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.