Por um pacifismo radical, recusa de toda guerra e toda forma de violência

O mínimo que se pode dizer sobre a guerra, sobre qualquer guerra, é que é um enorme desatino, um ato coletivo de insanidade. A guerra choca porque é devastadora e cruel, porque dizima vidas como se nada fossem, como se não importassem, como se houvesse causas que a justificassem. Devia chocar também por ser absolutamente irracional, grave insensatez da humanidade. Não há causas justas para a violência extrema porque combater a violência extrema é a mais justa das causas.
Eis que a história nos depara com a evidência incontornável, nos obriga a esquecidas platitudes: todo ataque bélico é absurdo, toda matança é inaceitável. Não importa de quem parta, não importam as circunstâncias, não há atenuantes para esse fato —chegamos ao ponto em que fenece a complexidade. Matar massivamente, lançar granadas contra os distraídos, despejar bombas sobre uma cidade sitiada, sequestrar, torturar, mesmo perseguir e executar um único homem, são todos atos indecorosos. Não merecem nenhuma palavra que os amenize: são o fracasso do humanismo, o triunfo da desumanidade.
Eu poderia buscar as mais duras sentenças para condenar os atos atrozes de duas semanas atrás, o terrorismo do Hamas empilhando mil vítimas num único dia, maior massacre de judeus desde o Holocausto. Poderia ampliar o tempo e a história e denunciar com as palavras mais ásperas o terrorismo de Estado liderado há muito por Netanyahu, e mais ainda nestes dias estrondosos, Israel a subjugar os palestinos a um regime de indigência, privação e morte. Seriam ambos textos precisos, mas parciais e falhos se por um instante insinuassem qualquer razão para a violência contraposta, para uma reação truculenta que nunca escaparia à sua própria condição de atrocidade.
Diante de tal devastação, de tal gravidade, a única postura possível é a de um pacifismo radical, que parta da premissa de que nenhum assassinato é aceitável. No pacifismo, dissipam-se ou deveriam se dissipar as origens e as afinidades. Não importa que eu tenha raízes judaicas, que meus bisavós tenham sido exterminados nos campos, que eu julgue que o povo judeu necessita de seu espaço: isso jamais me fará endossar o morticínio que seu governo provoca. Não importa que eu reconheça a justiça e a urgência da causa palestina, seu direito a um país livre e próprio: isso jamais me fará minimizar a dor provocada pela brutalidade do Hamas.
Não se derive do pacifismo uma neutralidade, a percepção equivocada de que não haveria no conflito um desequilíbrio, a típica desigualdade entre opressores e oprimidos, entre os que se valem da força para ocupar e os que apenas se ocupam de subsistir. Não se confunda o pacifismo com indiferença ou apatia, com uma condenação genérica de tragédias, uma desatenção às dores específicas, à dor dos outros que nunca pode ser desprezada ou obscurecida. Não se traduza o desejo de paz como legalismo, como aceitação acrítica de um estado de coisas insatisfatório para todos, terrível para tantos, muito aquém do que a humanidade anseia para si.
Que cada povo oprimido faça uso de todas as formas não-violentas de resistência, e se articule e se aglutine e reaja e denuncie e sensibilize e apele aos outros povos do mundo de todas as maneiras possíveis — maneiras que não me cabe elencar porque eles as conhecem muito melhor do que eu poderia conhecer. Quanto ao possível opressor, se atacado por aqueles que oprime, que empregue seu poderio estritamente em se defender, em garantir ao máximo que seus cidadãos estejam seguros, mas sem infligir sobre os outros uma nova violência e sem perder a clareza de que jamais haverá segurança absoluta onde há segregação e miséria.
Alguém poderá acusar, com bastante razão, que este texto é em si o desatino, o ato de insanidade de um pequeno escritor. Por que um sujeito tão distante dos acontecimentos, tão insignificante ante as autoridades, pensaria em tomar a palavra para dizer o que pensa das ingentes ações que lhe escapam, que apenas o atordoam e o comovem? Talvez por observar que o belicismo dos territórios críticos teima em se propagar mundo afora, e avança na visceralidade de discursos carregados de preconceito e ódio, reverberando então em inúmeras violências menores.
Sente, assim, a necessidade de insistir numa verdade elementar, na crítica enfática a toda guerra, a toda violência e toda brutalidade, a tudo aquilo que nunca é justo e nunca é sensato. Em algumas circunstâncias, é certo, a violência pode até ser compreendida, pode ser encarada como gesto desesperado, mas nem por isso deve ser naturalizada ou aceita, e muito menos estimulada ou financiada. Esqueçam-se os ânimos que nos movem: todo ato de morte deve ser condenado de maneira insofismável.
Liev Tolstói tinha oitenta anos, esperava a morte a qualquer momento, quando sentiu a necessidade de tomar a palavra no Congresso da Paz em Estocolmo. Ali retomou seu discurso contra a guerra e contra todo assassínio, contra a violência em todas as suas faces. Ali repetiu essa verdade "tão simples, tão clara, tão evidente, tão necessária (...) que basta revelá-la por inteiro, em todo o seu significado, e as pessoas já não poderão agir contra ela." Era 1909, em poucos anos o mundo inteiro agiria contra tal verdade e se deixaria tomar por sua destruição maior. Foi grande a ingenuidade de Tolstói, sim, mas estou certo de que ele não se arrependeu de ter dito suas palavras.





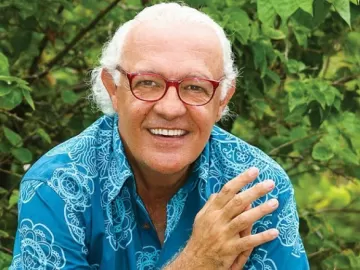







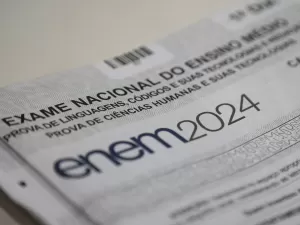





Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.