É preciso ir além da morte — sobre a vida e a obra de um artista palestino

É preciso ir além da morte, ir além da indizível dor. É preciso não admitir um povo só de vítimas, de corpos silenciados sob os escombros, de civis contabilizados nas estatísticas. É preciso que não se faça imaginável a dizimação que uns desejam e outros execram. É preciso conceber esse povo em sua permanência, sua resistência, entender que há décadas sobrevive à perseguição, que está ativo e presente e continuará a existir contra toda a violência. É preciso imaginar seus artistas, sonhadores e poetas, imaginá-los e então descobri-los inquietos e vivos.
Conheci Abdul Rahman Katanani numa residência artística em Paris. Era um homem alto, esguio, sustentava naquele tempo um sorriso largo e olhos festivos. Nada em seu semblante revelava a dor de sua origem, sua eterna condição de refugiado, filho de refugiados, neto de refugiados. Nada na agilidade de seu corpo indicava seu intransponível limite: que, sendo palestino, nunca tivesse entrado em terras palestinas, nunca tivesse pisado o chão de seus antepassados, nunca tivesse visto as oliveiras da família arrancadas há décadas por soldados hostis.
Numa tarde ligeiramente fria, numa terra que não pertencia a ele nem a mim, ouvi a história de sua vida que recuava muito além de si. Soube de seu avô duas vezes condenado à morte por combater os invasores da região, os sujeitos antes amistosos que começavam a destruir as vilas palestinas. Soube da partida desse avô já na primeira diáspora, em 1948, querendo acreditar que ficaria fora só por uma semana, como outros garantiam. Desconfiava, o avô, mas não tinha como saber que ele e as gerações sucessivas ficariam banidos da terra por mais de 75 anos, em contagem ainda aberta.
Aquele homem firme diante de mim era já um sobrevivente desde antes de ter nascido. Seu pai era de Sabra, sua mãe de Chatila, os dois campos de refugiados no Líbano cercados pelo exército israelense e devastados pela milícia maronita, no histórico massacre de 1982. Os pais se casaram poucos dias depois da carnificina, Abdul nasceu no ano seguinte. Viveu quase toda a vida num único campo de Sabra, dentro de um hospital improvisado como refúgio palestino, sem nenhuma cidadania, nenhum passaporte, impedido de sair a qualquer parte. Sua arte sensível e impressionante, a um só tempo contundente e lírica, foi sua licença para existir além daqueles confins.

Pessimismo da razão
O homem que agora fala comigo por uma tela que cruza o oceano tem os olhos tristes. Parei de ver as imagens das crianças que estão morrendo em Gaza, ele diz, era como uma morfina que entrava na minha cabeça e não deixava que eu me afastasse das cenas, e não deixava que eu pensasse em mais nada. Sente-se paralisado desde que começou a guerra, afastado de si e de suas obras. Sente como um pesadelo que volta a se repetir, as bombas que hoje caem e são as mesmas que têm caído há muito tempo, num contínuo genocídio.
São as ideias que matam primeiro, ele diz, os atos vêm em seguida. E durante os últimos cinquenta anos tem se dado a sistemática criminalização e desumanização do povo palestino, uma maneira de convencer extremistas que aqueles outros não merecem a vida, não têm direito a um país. Havia um processo de paz em andamento, e então eles preferiram tachar a palavra paz e ficar só com o processo, que se converteu no processo de limpeza étnica dos palestinos — ouço a extrema gravidade com que Katanani pronuncia essas palavras, que em sua voz não soam repetidas.

Não entendo o que eles desejam, ele se interroga seguidas vezes sobre o governo israelense, não quero entender o que eles esperam alcançar com sua violência, com sua cultura de prisões e muros infinitos. Como esperam que as pessoas não se ergam e se revoltem? Elas estão acossadas em suas próprias terras, sem os mínimos direitos. A única resistência que lhes resta é a do Hamas e do Hezbollah, mas é uma resistência inaceitável, violenta como a que a origina. Estamos vendo o choque entre duas extremas direitas, e, enquanto forem esses os protagonistas, não haverá nenhuma saída.
Essa violência não é a minha identidade, ele se recosta um pouco, sua voz se faz mais suave, essa não é a identidade palestina. Minha concepção de identidade está ligada à luta da OLP nos anos sessenta. O conflito palestino é um conflito humano. Não queremos matar pessoas, queremos conviver uns com os outros, habitar um único país em que todos tenham os mesmos direitos. Não tenho crenças, não sou uma pessoa religiosa, não acredito em nenhum deus. Mas acredito numa terra de fronteiras abertas e permeáveis, em que cada um possa ir aonde bem entenda.
Onde Katanani quer estar, onde seus pais querem estar, onde quer estar todo o seu povo é na terra que lhes foi proscrita há muitas décadas. Não há solução sem esse retorno, é o que ele sustenta, a situação não vai se curar sozinha, por esquecimento. Quando se quer curar algo, digamos uma oliveira, é preciso curar pelas raízes. Mesmo esquecidos nos cantos do mundo, nos sentimos cada vez mais apegados à terra — de que nada dispomos senão de imagens e histórias. É por essa memória coletiva que lutamos e seguimos existindo.
Otimismo da vontade
Nas obras de Katanani, vemos imagens sutis e graciosas construídas com os restos da segregação e da violência. O arame farpado que cerca os campos de refugiados faz-se mar, faz-se onda poderosa um instante antes da quebra. Os tapumes metálicos tão característicos das cidades ocupadas convertem-se em crianças que brincam, uma menina carregando balões, outra pulando corda. Há beleza por toda parte, apesar da dor que jamais se evade.
Contra o pessimismo que a realidade sombria provoca, a arte de Abdul Rahman Katanani é auspiciosa e solar. Trabalha com a matéria das fronteiras, com cercas e arames e tapumes, mas para que assim as fronteiras se desfaçam em algo de outra ordem. O que lhe interessa é a contradição dos materiais, contradição tão própria da humanidade: o que era áspero e duro pode se tornar suave e poético. O medo que a matéria exala ganha a forma do sonho, a forma da quimera.

Aos palestinos, diz Katanani, não há outra maneira de viver senão alimentados pelo anseio de um futuro, ainda que imperscrutável. A esperança é o nosso pão de cada dia, dizia seu pai em sua infância — é o que ele diz agora, e nesse instante volto a notar o sorriso que ficara para trás, o sorriso que eu via em seu rosto há dez anos na tarde fria de Paris.
Uma de suas obras principais, que chegou a ser censurada em galerias europeias, retrata as oliveiras arrancadas pelos soldados como forma tradicional de expulsar as famílias de sua terra. Conhecendo a resistência singular dessas árvores, antes de partir os palestinos cravavam no solo os galhos que restavam, sabendo que isso bastava para que voltassem a florescer, em dia próximo. As oliveiras de Katanani não são de madeira, são feitas de arame farpado. Mas estão vivas e são sua forma de repetir o gesto de seus antepassados, e aguardam o dia em que voltarão a florescer na terra que também a ele cabe.










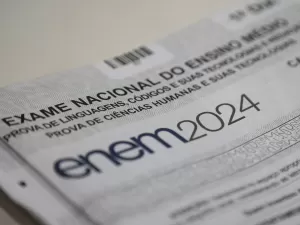









Deixe seu comentário