Por que o protagonismo indígena é fundamental para a bioeconomia

Nos últimos anos muito se tem pensado, falado e debatido sobre diferentes termos, conceitos e perspectivas em torno do manejo, manutenção e sustentabilidade da natureza ou do meio ambiente, ou ainda, da biodiversidade. Entre eles a bioeconomia, cuja discussão tem alcançado relevantes conferências e seminários nacionais e internacionais, incluindo produção científica conduzida por expoentes de diferentes correntes de pesquisa. Porém, percebemos uma distância entre o conhecimento dominante dito científico ocidental e o conhecimento indígena, resultando numa relação assimétrica que, em vez de complementar, se torna divergente.
No final de fevereiro deste ano, lançamos um estudo que é resultado de pelo menos três anos tentando estabelecer novas e maiores pontes de diálogo e alteridade entre o conhecimento ancestral e a ciência ocidental. Como antropólogos indígenas, essa é uma missão constante em nossas vidas, parte importante de como nos dedicamos aos nossos povos e territórios. Neste último trabalho, mergulhamos profundamente nos conhecimentos e saberes indígenas sobre economia, que têm muito a ensinar aos que estão pensando em estimular no país a bioeconomia da floresta em pé e dos rios fluindo.
Antes de embarcarmos no caminho de um lado a outro do rio, é preciso ter claro que para os indígenas o território não é apenas um espaço físico onde estão suas moradias, mas também um lugar particular e sagrado em que se estabelecem relações profundas de interdependência entre humanos, não-humanos e mais do que humanos. Por isso, para nós indígenas, é impossível pensar, falar, produzir ou tomar qualquer decisão dissociada de nossos territórios, nos quais os humanos são apenas mais um elemento da natureza. O território é nosso bem-viver, nossa forma de compreender e estar no mundo que precisa ser entendida e respeitada pela sociedade brasileira.
Dito isso, ao cruzar o entendimento indígena sobre economia com o que se tem chamado de bioeconomia, percebemos que existem muitos aspectos que se complementam. A forma indígena de gerar excedentes tem como objetivo a perpetuidade da existência, dos conhecimentos e da própria natureza, em um modo de produção que não gera externalidades. Pelo contrário, em nosso bem viver coletivo buscamos a abundância, não em quantidade, mas em abundância de vida que nutre toda a biodiversidade, não apenas os humanos. Nossas necessidades não são ilimitadas e nossa economia é e sempre será da floresta em pé, seguindo a perspectiva de que entre a onça, a cobra, o igarapé, o lago, a sumaúma e nós não há muita diferença. Quando alguém enxerga um outro ser vivo como sendo inferior a si próprio, deixa escapar o que é mais sagrado: a vida.
A bioeconomia indígena não se restringe apenas à produção de bens materiais, mas engloba um conjunto diversificado de atividades, desde a agricultura sustentável até a arte e o artesanato tradicionais, cujo valor está embutido tanto no âmbito material quanto imaterial. Por exemplo, as mulheres indígenas desempenham um papel fundamental nesse contexto, perpetuando as tecnologias sociais por gerações através do processo de produção, seja pela cerâmica, cestaria, grafismos ou outras práticas que refletem uma ciência milenar. Nossa ciência existe e tem valor como qualquer outra.
A educação ancestral não é coisa do passado nem ficou na história. As mulheres Baniwa e as mulheres indígenas de outros povos se reinventam para manter esses conhecimentos atualmente. Hoje, o contato com o design e outras áreas da economia criativa da cultura ocidental já tem levado esses conhecimentos a palcos e passarelas distantes dos territórios. A questão é como estabelecer uma relação simétrica entre esses dois mundos sem que a economia das mulheres indígenas seja explorada ou vista como se pudesse se transformar em uma grande empresa. As mulheres indígenas precisam ser consultadas no coletivo porque, além de produzirem arte, elas também são mães, agricultoras, lideranças políticas, parteiras, e têm inúmeras responsabilidades dentro e fora das aldeias.
No relatório Nova Economia da Amazônia, liderado pelo WRI Brasil (World Resources Institute) em parceria conosco e outros 74 pesquisadores, foi demonstrado como os instrumentos usados para medir a economia hoje não incluem grande parte da bioeconomia, inclusive a indígena. O estudo foi capaz de identificar 13 produtos nativos para os quais há dados seguros e demonstrou que geram um PIB de R$12 bilhões por ano com potencial de chegar a R$ 38,5 bilhões anuais em 2050. Só que os indígenas e povos da Amazônia utilizam, apenas para alimentação, mais de 270 itens. Isso, somado a outros produtos indígenas que vão além da produção de alimentos, demonstra o enorme potencial da bioeconomia indígena.
Nosso trabalho continuará porque consideramos essencial promover um diálogo inclusivo e respeitoso entre os povos indígenas, as instituições governamentais e a sociedade civil. É preciso garantir que as políticas públicas relacionadas à conservação ambiental e ao desenvolvimento econômico levem em consideração as necessidades e aspirações das aldeias indígenas, respeitando sua autonomia e soberania sobre seus territórios. Precisamos ouvir o maior número de povos indígenas possível, mapear suas demandas e interpretações para a economia, e fazer pesquisas mais robustas e sólidas para que possamos estabelecer uma relação de respeito e confiança recíproca entre indígenas e não indígenas no planejamento e eficácia da bioeconomia.
A bioeconomia oferece uma visão alternativa e inspiradora de como podemos repensar nossas relações com o meio ambiente e seus recursos naturais. Porém, ainda há um longo caminho para reconhecer e valorizar os conhecimentos e práticas dos povos originários. É hora de ouvir mais e aprender com aqueles que há milênios têm vivido em harmonia com a natureza. Juntos, podemos construir um mundo em que a biodiversidade seja preservada, as culturas indígenas sejam respeitadas e a prosperidade seja compartilhada por todos os seres vivos. Nossa ciência e conhecimento existem e têm valor como todas as outras.
*Braulina Baniwa, mestre em Antropologia Social e diretora executiva da ANMIGA (Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade)
Francisco Apurinã, consultor, pesquisador indígena e pós-doutor em Antropologia Social











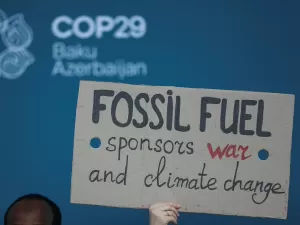







Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.