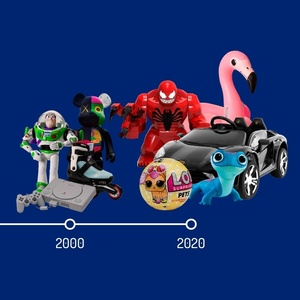"Maré" e "paz" são as duas palavras escritas em uma parede no meio do maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, na zona norte da cidade, escolhida como pano de fundo para uma foto. A cor azul desbotada da construção denuncia que a pintura é antiga. As incontáveis marcas de bala de arma de fogo cravadas nela, porém, não deixam pistas desde quando estão por ali. "Essa imagem tem que ser mais ampla, a gente quer mostrar a nossa realidade". Foi assim que os jovens do coletivo Eco Maré justificaram para o fotógrafo a preferência pelo local do retrato.
O fotógrafo documentava a ação do grupo em um canteiro verde que construíram em uma rua dentro do Complexo. A princípio, a foto tinha como finalidade registrar o trabalho que eles desenvolvem promovendo educação ambiental dentro das favelas, por meio da revitalização de espaços públicos. A ideia dos jovens do Eco Maré, então, era quase dar um aviso de que não se pode falar sobre meio ambiente ignorando os problemas que eles vivem cotidianamente em uma favela.
Antes da Covid-19 estourar no Brasil, no começo de fevereiro de 2020, Juliana de Oliveira, moradora da Rubens Vaz, contava por telefone que, ao lado de mais seis pessoas de diferentes locais da Maré, iniciou o projeto. em 2018. À época, o Eco Maré se preocupava com um problema que parecia muito mais próximo do que a pandemia do novo coronavírus: as mudanças climáticas, as consequências nocivas que elas têm no bem-estar do favelado e como conscientizar a população do que é necessário fazer para mitigar os problemas que elas causarão em um futuro próximo.
Até se envolverem com o projeto, nunca tinham se interessado pelo tema. Até hoje, Juliana diz que não se considera uma ambientalista. Para ela, uma estudante de enfermagem e favelada pensar em luta climática era "muito coisa de branco rico."
"Eu acho que a minha voz é muito menos impactante do que a do pessoal da Zona Sul que vem para cá falar dos problemas com saneamento, lixo? De coisas que eu vivo todos os dias todos. Mas eu sei que por condição social e por serem brancas, essas pessoas têm uma voz que ecoa muito mais do que a nossa. E isso causa a impressão de que esse rolê não é para a gente", diz.
Mas não se engane. Apesar da maioria das tomadas de decisões em relação ao clima virem de pessoas brancas, historicamente são populações negras e indígenas quem sempre estiveram na linha de frente em defesa do meio ambiente, muito por possuírem ligações mais profundas com o meio em que vivem.