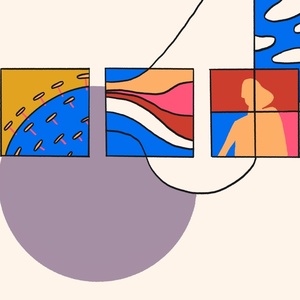Quando o irmão da psicóloga Marília Gabriela morreu, três meses atrás, a pandemia no Brasil ainda era chamada de gripezinha. Saudável, ativo e aos 39 anos, Alexandre prestou sua peregrinação pelo sistema de saúde por alguns dias, até que não considerassem mais sua condição tão benigna. Quando finalmente foi internado, apenas o irmão que o conduziu ao hospital o viu entrar. Nunca mais ninguém da família pôde falar com ele. Um dia depois, ligaram pedindo os seus documentos, e os parentes já entenderam.
Acabou assim, no ar. "A gente foi até o local da cremação, mas você só vai para assinar papel. E tem a coisa de não poder tocar no outro. Na hora, minha mãe acabou abraçando algumas pessoas. Tentei impedir, mas me disseram que deixasse", conta Marília.
Não foi suficiente para aplacar o rompimento inesperado do vínculo que o jovem filho, irmão, amigo tinha com os seus. A mãe de Alexandre não sabia, mas decidiu fazer exatamente o que aconselham os especialistas: criar um ritual possível. "Ela ligou para um amigo muito querido dele e falou, me ajuda a pensar, não sei o que faço com as cinzas". A atitude desencadeou um movimento em rede entre pessoas que amavam Alexandre e que começaram a falar sobre ele e rememorar - a viver seu luto. Os amigos sugeriram espalhar as cinzas na praça ao lado da casa onde cresceram e passaram muitos momentos. Uma amiga da mãe pensou em plantar uma árvore e fazer uma oração.
Criaram então, juntos, seu próprio ritual. Escolheram uma árvore - flamboyant - e chamaram poucas pessoas para uma celebração. Na véspera, Marília teve medo de remexer nos sentimentos. Mas foi em frente. "Procurei o jardineiro da praça, ele preparou o buraco com todo cuidado para a muda". No dia seguinte, cerca de 10 pessoas, afastadas e de máscara, mas juntas, estavam lá. "Nosso irmão mais novo disse algumas palavras, falou o quanto Alexandre amava essas pessoas e fizemos uma oração". Um ritual simples, mas fundamental. Agora, a mãe de Alexandre sempre visita a mudinha quando passeia com a cachorra que era do filho. Anda achando que a planta está mirrada, quer ver a árvore mais vigorosa. De vez em quando, vai lá cuidar do canteiro.
"Sentimos acho que uma calma, uma coisa que se fecha. A dor existe, mas está bem diferente", diz Marília. "Não é algo banal".