Passistas, sambistas e foliãs se unem contra machismo e racismo no Carnaval

Quando Renata Spallicci entrou na avenida para mais um ensaio da escola Barroca da Zona Sul, em São Paulo, a comunidade do samba não gostou do que viu. A empresária desfilou com uma máscara de flandres, que era usada para torturar escravos, impedindo que eles se alimentassem.
Renata estará em 2020 à frente da bateria da Barroca, que retorna ao Grupo Especial com enredo sobre a história da líder quilombola Tereza de Benguela. A rainha, que é branca, desculpou-se, mas o episódio evidencia a falta de profundidade de debates fundamentais na luta contra o preconceito. "Fiquei extremamente chateado. Na minha opinião foi uma falta de respeito dela com o enredo", diz Marcão, diretor-geral da escola.
Naquele momento tivemos que gritar. A gente precisa estudar, compreender a história para podermos falar dela. Quando uma rainha se dá ao luxo de não conhecer a história e usa a máscara, ela não nos representa" Lyllian Bragança, 39, passista e uma das criadores do coletivo Samba Quilomba
Segundo Lyllian, a repercussão da comunidade à polêmica fez com que ela percebesse que não era apenas uma questão de falta de conhecimento histórico. Havia, na verdade, o coro de um amplo movimento de passistas, sambistas e foliãs contra o racismo e o machismo no Carnaval.
Representação distorcida

Um desses rótulos apontados por Lylliann é a objetificação do corpo da passista. A discussão é aprofundada pela autora Rafaela Bastos, 38, que ouviu 80 mulheres em seu projeto sobre o tema. A ideia do estudo surgiu de sua percepção de que a "mulher ideal" - ou o que terceiros esperavam que ela fosse - ocultava a mulher que ela de fato é. "Entre realidade e imaginação, o ganho de causa era sempre o da passista personagem, do arquétipo, mas sem a concretude de um corpo, só a imagem dele", conta. Ela desfilou como passista e musa da Mangueira por 23 anos, e hoje faz parte da diretoria da escola.

Segundo Rafaela, todas as 80 mulheres que ouviu relataram a percepção do corpo como um objeto, além de ocorrências de assédio sexual. E o estudo, ainda de acordo com ela, coincide com a realidade do Carnaval. "Já me deparei com muitos casos de racismo e machismo, e vi amigas passarem também. Um momento clássico é o pedido para tirar foto apenas da bunda. Repito, apenas da bunda. Em um contexto artístico, não tem o menor cabimento", afirma.
É como se a pessoa fosse a uma apresentação de balé clássico e, ao final do espetáculo, pedisse à bailarina para tirar uma foto debaixo do seu tutu. Imaginou que bizarro? É característico da objetificação. Isso não é natural, não é normal, é social. Precisamos debater em sociedade, questionar, exigir, pautar e peitar" Rafaela Bastos, diretora da Mangueira
Até a forma como o desfile é conduzido atualmente, segundo sambistas, passistas e historiadores ouvidos por Ecoa, contribui para a valorização do corpo em detrimento do espetáculo artístico. Para eles, a dinâmica de desfile valoriza a imagem da passista, mas não sua representação artística. "O que vocês veem é um esforço artístico individual e coletivo da ala para sambar no pé. É resistência!", diz Rafaela.
O racismo como enredo
Em paralelo à expressão artística, o engajamento e empoderamento negro também fazem parte do desfile da Tom Maior em 2020. Segundo o diretor Judson Sales, a ideia do enredo "É coisa de preto" surgiu em 2018, após um comentário racista de um jornalista viralizar. "Não seria justo que a nossa comunidade, que é presidida por uma mulher negra, se mantivesse em silêncio nesse contexto. Acreditamos que as escolas de samba, além entretenimento e cultura, são também um instrumento de voz das comunidades que a compõem", afirma.

Além do desfile, a escola promoveu durante o ano encontros para abrir o diálogo entre a população. "Muitos negros e negras se abriram para contar situações de racismo que tinham vivenciado em seu cotidiano, o que nos ajudou a estabelecer diálogos e deixou evidente a necessidade de superar alguns entraves", afirma Sales.
Ativismo nas ruas

A trajetória do Mulheres Rodadas também retrata lutas pessoais de Renata, que enfrentou uma longa batalha judicial depois da sua separação. "Sou uma mulher branca, acho que tive muitos privilégios e descobri o feminismo tarde, mas também enfrentei situações de violência. Foram sete anos brigando pela guarda dos meus filhos, um sem-número de ações judiciais. Paguei um preço muito alto por minha independência. Então o bloco é também um grito meu, pelo direito de viver minhas escolhas, e tem ecoado entre outras mulheres de maneira surpreendente", afirma.
O Mulheres Rodadas hoje é considerado um híbrido entre um bloco e um movimento social. "O mais importante desse caminho tem sido inspirar muitos outros grupos no combate ao racismo, homofobia, violência contra a mulher. A ideia, a partir do ano que vem, é conseguir uma articulação que proponha ações efetivas de apoio à mulher, como instalar tendas de acolhimento para aquelas que sofrem violência durante o carnaval. A gente entende que o poder público tem o seu papel, mas também cabe a nós propor alternativas, criar saídas", afirma.





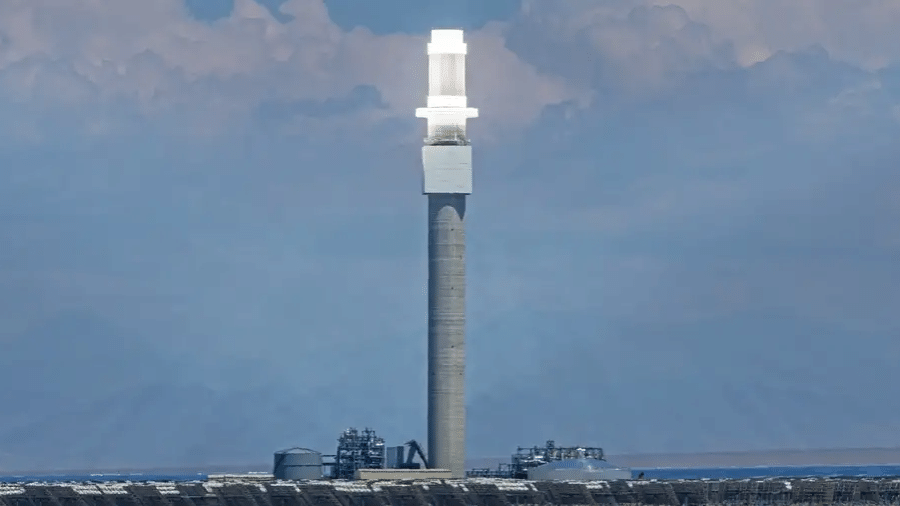




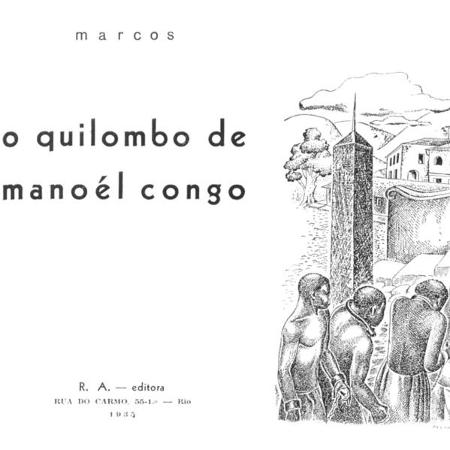






ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.