Quando não é possível desligar: a rotina de jornalistas na pandemia

"Você é mais gentil com sua cafeteira do que com você mesmo." A frase do jornalista norte-americano Al Tompkins, do Instituto Poynter de Estudos de Mídia, pode causar certa estranheza, mas soa como um alerta para quem está à frente do noticiário sobre a pandemia da Covid-19. "Pelo menos a cafeteira você desliga quando ela não está em uso."
Essa é a maior dificuldade de jornalistas que estão atuando na cobertura da pandemia: como desligar após um dia cheio, conversando com pessoas sobre uma doença que já matou mais de 170 mil pessoas no mundo — número até o fechamento deste texto —, tendo acesso a rotina de hospitais, ouvindo histórias com fins por vezes tristes, analisando pesquisas, lendo o noticiário de outros países e cruzando informações diversas?
"Eu realmente não consigo. Não dá, está insano. A gente recebe uma quantidade monumental de informação todos os dias. E isso demanda uma atenção. O que eu posso te dizer que ainda consigo fazer é evitar comentários de rede social. Isso me ajuda a manter um pouco a sanidade mental", conta Patrícia Campos Mello, 45, repórter do jornal Folha de S. Paulo.
Na semana passada, a jornalista acompanhou por três dias o trabalho de médicos e enfermeiros do Instituto Emílio Ribas, primeiro hospital público a ter a UTI lotada de pacientes com Covid-19. A reportagem narra a rotina do local na pandemia, os procedimentos adotados, o estresse dos profissionais e a dor de quem está perdendo familiares para um vírus até então desconhecido, mas que age de forma agressiva no organismo.
"Uma das enfermeiras me falou uma frase que não saiu da minha cabeça: 'É como se os pacientes que chegam [ao pronto-socorro] estivessem se afogando em terra firme, porque eles estão com um nível de oxigenação tão baixo, mas tão baixo, que é praticamente um milagre que aquela pessoa ainda esteja viva", conta.
Em 2014, quando cobriu a epidemia de ebola em Serra Leoa, Patrícia vivenciou um cenário semelhante, mas muito pior em se tratando de estrutura médica. "Faltava tudo. Luva, máscara e aparelhos. Os profissionais de saúde lidavam com um nível muito maior de contaminação. Era um país com muito menos preparo." Na época, a jornalista foi questionada sobre por que se dispôs a correr esses riscos. A resposta dela é a mesma para os dias atuais: é preciso mostrar a gravidade da doença para as pessoas se conscientizarem.
"O risco existe, está aí. Todos sabemos. As pessoas correm o risco tomando o ônibus, por exemplo. O jornalismo é considerado uma atividade essencial, é essencial que as pessoas sejam informadas e entendam a realidade, ainda mais com a quantidade avassaladora de notícias falsas. Então é necessário ir para a rua e mostrar o que está acontecendo. Claro, tomando as precauções. Porque enquanto as pessoas não virem o trabalho dos médicos, não lerem relatos sobre a doença, vão continuar achando que é uma gripe. E não é. É uma doença muito grave", diz ela.
Desde a reportagem no Instituto Emílio Ribas [assista acima ao vídeo da Folha], Patrícia está isolada dos familiares, como deve permanecer por um período de 14 dias. Uma medida de proteção após ter contato com uma área de risco.
"A imprensa vinha de uma fase em que a sua credibilidade estava sendo muito atacada. Como existe muita informação a ser checada, a cobertura de Covid-19 está servindo para revalorizar o jornalismo profissional. Mostrar, para algumas pessoas, a importância de você ter jornalistas profissionais, independentes, checando fatos, números, mostrando a realidade de um país completamente desigual. É uma cobertura que mostra por que o jornalismo profissional o os jornalistas que vêm sendo atacados pelo governo são tão necessários nesse momento", diz a repórter.
Para a coordenadora do departamento de psicologia voltado à saúde mental no trabalho da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Laura Camara Lima, apesar de jornalistas estarem acostumados ao ritmo intenso das redações, coberturas que envolvem questões humanas e sociais, mortes, geram uma carga emocional muito pesada, e cria-se mecanismos para lidar com ela.
Todo médico tem medo de se contaminar do coronavírus, mas se ele for pensar nisso na hora em que está com um paciente, não faz a consulta. Profissionais que lidam com esse tipo de situação criam uma tipo de 'defesa' para conseguir realizar o seu trabalho. No caso do jornalistas, a 'defesa' pode ser a informação. Ele sabe dos riscos e até que ponto pode avançar ou não para a realizar a reportagem
Laura Camara Lima, coordenadora o departamento de psicologia voltado à saúde mental no trabalho da Unesp
Sobreposição de crises
Em 2018, quando houve a erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, deixando mais de 110 mortos e 200 desaparecidos, o repórter e apresentador Juliano Dip, 32, da Band, foi até a região devastada pela lava e retratou o drama de moradores que perderam suas casas. "Foi uma cobertura dura, mas diferente do que estamos vivendo. Chegar perto de áreas atingidas, após a erupção, era me colocar em risco. E mais ninguém. Às vezes, o repórter é meio inconsequente e vai atrás da reportagem sem medir o risco. Só que, nesse momento, com o coronavírus, não há espaço para isso. O risco não é só sobre nós, é sobre a disseminação", diz.
"A minha sensação é de estar vivendo isso 24 horas por dia. Não estou conseguindo muito me 'desligar'", diz Marcos Sergio Silva, 44, chefe de reportagem do UOL. Para o jornalista que coordena a equipe de editores e repórteres cobrindo exclusivamente a pandemia, um agravante é que essa cobertura ocorre em um cenário de crise política, o que demanda um nível de atenção muito alto.
"Além de ter de se organizar para não expor o repórter nem o entrevistado sem necessidade, o país vive um embate político muito forte. Então não é só aguardar as coletivas, divulgar o balanço do número de vítimas ou relatar a falta de equipamentos nos hospitais. Enquanto tudo isso está rolando, a gente tem um presidente que derrubou um ministro, sabe? É como se fosse uma bomba relógio, e você precisa estar atento para quando ela explodir."
Marcos diz que, na atual conjuntura, o que mais o preocupa é a disseminação da doença nas periferias. "Minha história mesmo é de uma família que morava toda em uma mesma casa, sete pessoas. E hoje há muitos nessa situação, e aí você começa a ver que isso pode ter um efeito dominó, com famílias inteiras destruídas. Então não tem tranquilidade. Tem a preocupação social, com a família, os amigos e a preocupação jornalística."
Estado de hipervigilância
Evitar o excesso de informação em prol da saúde mental é algo que já virou lugar comum, mas psicanalistas não têm recomendado o isolamento do noticiário. De toda forma, para jornalistas isso é impossível. A psicóloga Laura Camara sugere brechas na rotina. "A hipervigilância prejudica até a concentração. Por isso é importante que cada um crie uma maneira de relaxar", diz ela.
Para a coordenadora da Unesp, o que ocorre é que quando você está sobrecarregado, falta tempo para preocupações maiores — o que pode ser, também, uma defesa. O profissional ocupa a mente com trabalho e consegue 'esquecer' a preocupação com familiares ou dinheiro. "'Se eu começar a pensar no vírus, ou que posso perder um familiar, não vou mais conseguir realizar meu trabalho'", exemplifica.
No contexto em que a atividade jornalística pode estar ainda mais estressante e precária, o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT), que funciona na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), lançou a pesquisa "Como trabalham os comunicadores em tempos de pandemia da Covid-19". De acordo com Roseli Figaro, coordenadora do estudo, objetivo é ouvir os comunicadores e levantar dados que possam, futuramente, orientar políticas públicas e de organizações jornalísticas em situações de crise como a que vivemos.
Contra-ataque de informação

No Complexo da Maré, a jornalista Gizele Martins, 34, também tem encarado uma rotina atribulada. Integrante da Frente de Mobilização da Maré, ela conta que o coletivo elaborou um plano de comunicação com produção de reportagens, cartazes e grafites com informações de prevenção, além de mensagens em rádios comunitárias acerca dos sintomas da Covid-19, frisando a importância do isolamento. "É um trabalho gigantesco. Quem vai para rua, não faz parte do grupo de risco e vai protegido", conta.
A proliferação de notícias falsas e a necessidade de combatê-las demanda estratégias. "A cada pronunciamento de uma autoridade pública dizendo que a população pode voltar ao normal, por exemplo, é preciso agir rapidamente dizendo que a OMS (Organização Mundial da Saúde) segue orientando o isolamento. Precisamos estar o tempo todo antenados, a população sempre tem dúvidas."
Na comunicação comunitária, o jornalista ou coletivo muitas vezes atua junto a outras organizações locais, então a prática é de não apenas reportar e informar, mas também dar suporte a famílias vulneráveis, por exemplo.
"Meu objetivo sempre foi mostrar o lado bom da favela, muitas vezes esquecido pelos grandes veículos que vêm aqui para falar de crime, morte e tráfico de drogas. Como sou morador, eu sei o que está acontecendo", diz o fotógrafo Bruno Itan, 31, que nasceu no Complexo do Alemão. Ele vem registrando o esforço da comunidade durante a pandemia. As imagens, postadas em seu Instagram, informam e ajudam na captação de recursos para moradores que estão enfrentando dificuldades.

Para Yane Mendes, cineasta da comunidade do Totó, em Recife (PE), integrante do coletivo Rede Tumulto, o trabalho de comunicadores que atuam em favelas e periferias faz a diferença quando o assunto é traduzir a informação. "Na televisão, fala-se muito da situação dos idosos. Que estão isolados em um quarto, em casas de repouso. Na periferia, a maioria da população divide os quartos, usa o mesmo banheiro. Nosso trabalho é informar as pessoas de acordo com o cotidiano em que elas vivem."
Olhar humano na cobertura
"Acredito que o trabalho de repórteres que estão na rua nesse momento é fazer com que a informação chegue até as pessoas, para que elas vejam a gravidade de tudo que está acontecendo e entendam a necessidade de se prevenir", diz Talyta Vespa, 25. Repórter de UOL Esporte, ela foi chamada para reforçar a equipe que cobre o noticiário mais quente sobre coronavírus. Na última semana, ela passou dois dias no Sancta Maggiore, hospital que já registra o maior número de mortes por Covid-19 em São Paulo.

Victor Moriyama, 35, trabalha como fotojornalista há dez anos, cobrindo temas de segurança pública, violência e questões ambientais. Ele tem atuado hoje na cobertura da pandemia para jornais internacionais, como o The New York Times (é possível acompanhar o trabalho dele aqui). "Tem sido difícil. Por um lado, temos uma racionalidade de ficar em casa. A jornalista e curadora de fotografia Simonetta Persichetti sempre fala: 'O repórter fotográfico vai estar sempre no olho do furacão'. Faz todo o sentido. É ele que está na linha de frente. Então, nesse momento de quarentena, mais do que nunca, as pessoas acabam tendo a noção da realidade, do que está acontecendo lá fora, muito por meio do nosso trabalho", diz.
Uma das coberturas mais difíceis foi a de Brumadinho. Era muita morte e um impacto tremendo na vida de muita gente. Acredito que, na pandemia, com o passar das semanas, tudo vai ficar mais difícil. É claro que a gente cria uma proteção ao longo dos anos, um casco, mas sempre fica um dano colateral. Alguma coisa marcada na gente
Victor Moriyama, fotógrafo
"O ineditismo dessa cobertura é que a ameaça é invisível, né? O vírus paira no ar. Isso é o mais complicado de lidar, você não pode desligar em nenhum momento o seu radar de atenção, achar que está tudo bem", diz Alexandre Schneider, 43, que trabalha como fotógrafo da agência Getty Images. Quando a situação começou a se agravar no Brasil, ele estava editando material em casa. Com o avanço da disseminação, passou a ir para a rua.
Sobre sua atuação, ele vê tanto a importância de contar histórias — narrativas de humanidade em meio a uma pandemia —, quanto de se proteger. Nas últimas semanas, registrou um atendimento médico domiciliar em Paraisópolis. Uma das imagens ilustra o topo desta matéria. As demais, contextualizando a situação, podem ser vistas em sua página de Instagram.
"Neste momento, é importante valorizar histórias de pessoas, ter um olhar mais humano. E, claro, sem esquecer de se expor o mínimo possível e evitar aglomerações. No começo você tem esse instinto de sair com a câmera na mão registrando tudo. Mas não é por aí. Não é uma cobertura para se pensar em prêmio. Nenhuma foto vale uma vida."






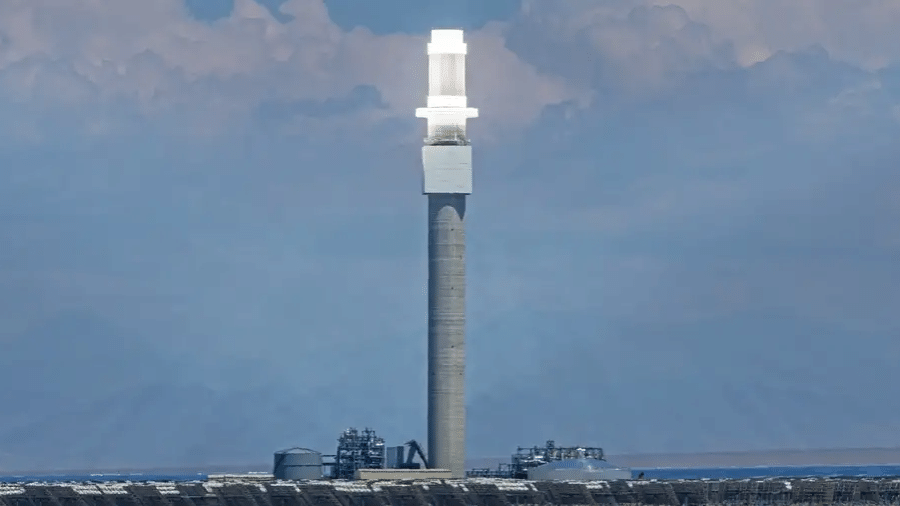




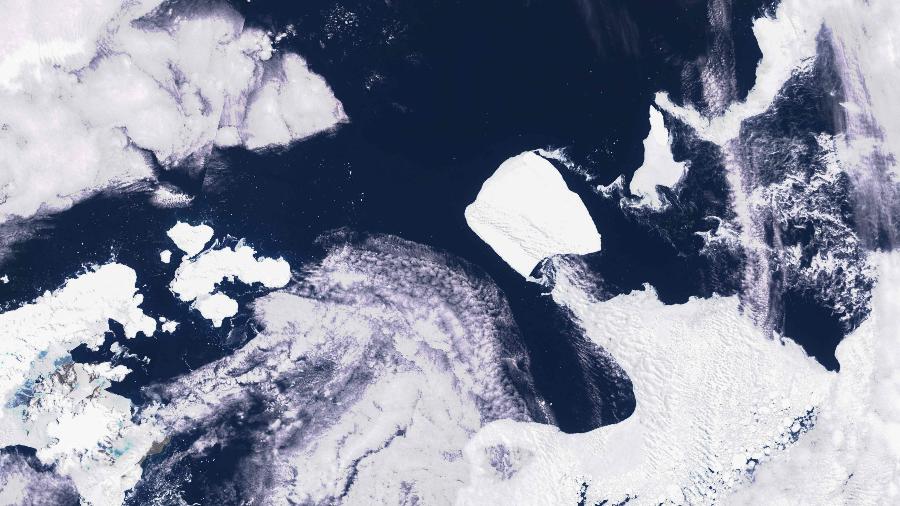

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.