"Eu faço serviço social, mas isso é trabalho do Estado", diz Dona Zilda

"Se eu tivesse lá, acho que teria morrido. Eu não teria deixado o policial atirar no meu filho. Mãe é isso. Ela defende a cria dela". Zilda Maria de Paula, mais conhecida como Dona Zilda, perdeu seu único filho, Fernando de Paula, na maior chacina de São Paulo. Foram 17 mortos e 7 feridos.
No mesmo dia que enterrou Fernando, Zilda foi a um protesto pedir por justiça. A partir dali ela se tornaria porta-voz de outras mulheres que passavam pela mesma dor que ela. Futuramente, elas passariam a ser conhecidas como Mães de Osasco-Barueri.
Depois de quase seis anos dos assassinatos, que ocorreram entre os dias 8 e 13 de agosto de 2015 em Osasco e Barueri, o caso ganhou mais um capítulo. O último julgamento dos réus.
Fabrício Eleutério e Thiago Henklain foram condenados a 255 e 247 anos de reclusão em regime fechado, respectivamente, em 2019. Mas o ex-PM Victor Cristilder Silva Santos e o guarda civil municipal Sérgio Manhanhã tiveram que enfrentar um segundo juri. No dia 26 de fevereiro deste ano, foram absolvidos.
Em plenário, o advogado João Carlos Campanini acusou sem provas Dona Zilda de ligação com o PCC em virtude de seu apoio ao movimento Mães de Maio. A organização é composta por mães, familiares e amigos das vítimas dos Crimes de Maio de 2006 que ocorreram em São Paulo. 493 pessoas foram vitimadas.
"Eu vi o pessoal chorando depois da sentença, mas eu pedi pra todo mundo engolir o choro. Dei uma de valente, né? Mas pra mim foi meia justiça feita: ficou dois presos e dois soltos", conta Dona Zilda.
Apesar do desalento com a decisão, o movimento das mães não vai parar por aí. Em entrevista para Ecoa, Zilda contou como tem articulado, principalmente, para garantir a seguridade financeira para essas mães que ficaram desamparadas. Falou, também, sobre Fernando e a importância de dar voz à sua verdadeira história.
A primeira coisa que muita gente pensa quando vê um grupo de mulheres racializadas e moradoras de periferia reivindicando justiça por um filho que foi assassinado pela polícia é que se trata de mães de bandidos. Essa criminalização, que tende a justificar a maneira que o Estado atua dentro de favelas e periferias, acompanha as mães, não fica restrita aos filhos delas.
Juliana de Farias, pesquisadora do movimentos de mães contra a violência policial
Uma mãe é seu filho
Dona Zilda não se lembra exatamente da data, mas o ocorrido ainda está na memória. Certa vez, mandara Fernando lhe comprar um maço de cigarros por volta das oito horas da noite e o garoto não voltou para casa.
Na manhã seguinte, quando foi ao quarto do filho já bastante brava pensando que ele tinha pego seu dinheiro para sair com amigos, ela se deparou com a voz chorosa de Fernando, aquela que ele sempre fazia quando estava com raiva.
"Mãe, os homem me parou, tava eu e meu colega, me enquadraram perguntando onde tava a droga". Na cena havia um papel rasgado no chão. Era o protocolo do título de eleitor de Fernando, único documento que estava sob sua posse quando foi abordado. Segundo Dona Zilda, os policiais rasgaram o papel "falando que isso não era documento que se apresentasse".
"Eu sempre falava pra ele não ficar em turma porque a polícia não gosta de quem fica em turma. Mas ele nunca me deu trabalho, era inteligente e sossegado. O pessoal daqui até falava pra ele 'Você é mole! Um baita homão desse de mais de um metro e noventa'. Ele calçava 46, era difícil até achar roupa pra ele", lembra Zilda.
Fernando, assim como Dona Zilda, nasceu na Brasilândia, mas foi no bairro do Butantã, cerca de duas horas de ônibus de lá, onde viveu boa parte da infância. Aos três anos, acompanhou a mãe na separação dos pais e foi morar na casa onde Dona Zilda trabalhou como empregada doméstica por 43 anos até se aposentar.
"Quando ele fez uns 12 anos, eu vim pra cá, consegui comprar aqui", conta. Antes de se firmar em seu último emprego como pintor, Fernando tentou a vida de militar, mas saiu na primeira baixa do quartel. "Quando ele tava lá eu falava pra ele seguir carreira porque sendo militar do exército os policiais não iam mexer com ele".
A carreira de militar não se firmou e Fernando até a de atleta. Jogar basquete profissional, contudo, exigia um tênis que Dona Zilda não conseguia comprar. Todo o dinheiro que ganhava ia para pagar a casa. O filho, então, encontrou o trabalho nos bicos como pintor.
"Antes de acontecer, ele pegou uma tuberculose. Mas mesmo assim ele trabalhava. Ele colocava a máscara e ia trabalhar", lembra a mãe. "Tem que tirar esse rótulo de que a polícia matou os meninos porque eles eram bandidos. Cada um que morreu tinha uma história, uma família. E eu perdi meu único filho."
Quando essas mães falam para a gente que foi arrancado um pedaço delas, essa conexão muito intrínseca entre o corpo dos filhos e o corpo delas, dá uma legitimidade e um peso que nenhum outro movimento político consegue ter para falar sobre essa violência do Estado.
Juliana de Farias, pesquisadora do movimentos de mães contra a violência policial
"Não calar"
Movimento político. É assim que Juliana de Farias, pós-doutoranda do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), define o movimento de mães do qual Dona Zilda é porta-voz. "A atuação não é apenas de denúncia, elas reivindicam justiça no espaço público. Esse é o movimento mais importante para pautar políticas antirracistas e anti-bélicas do Estado", explica.
As Mães de Osasco-Barueri não se conheciam até a chacina. Foi através de uma ação da ONG Rio de Paz, sugerindo que elas se unissem em um grupo, que nasceu a primeira reunião dessas mulheres que tinham acabado de enterrar seus filhos.
"Os próprios caminhos de busca por justiça fazem com que elas se conheçam", explica Juliana. Essa semelhança o grupo formado pelas Mães de Osasco-Barueri possui com outros coletivos de mães que integram a Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado.
A busca por justiça, aliás, vai além da condenação individual de agentes. Ver os algozes de seus filhos presos é importante para esses movimentos, mas eles buscam por mais. O Movimento Mães de Manguinhos, por exemplo, existe para que outras mães não percam seus filhos na mão do Estado.
Apesar de ter visto a justiça agir "pela metade", como pontua Dona Zilda (com dois agentes presos e dois soltos), ela garante que não vai parar. Ou melhor, não vai se calar. "Não é porque acabou o julgamento que acabou para mim, eu vou continuar falando, indo em ato. É como a Débora [Maria da Silva] das Mães de Maio fala: nossos mortos têm voz", pontua.
Além de não deixar de subir no palanque para falar por Fernando, Dona Zilda mantém, e manterá, outra atuação. A sua própria ação social. Como porta-voz do movimento, ela tem se encontrado com a defensoria pública para garantir uma indenização e suporte para as mães enlutadas.
"Com a sentença condenatória as mães podem entrar com uma ação contra o Estado. Demora. É uma ação obviamente longa porque o Estado goza de prazos em dobros e certas regalias. Mas o direito delas é intocável. Elas têm direito e ponto", explica a advogada e integrante do Instituto Formação Diane Pereira Sousa.
Enquanto a indenização não vem, é Dona Zilda que corre para ajudar as mães como pode. Por meio de vakinhas na internet, doações arrecadadas e até parceria com instituições não governamentais, ela distribui o que dá para atender as necessidades das companheiras de luta.
"Tem duas mães que estão acamadas. Uma delas ficou com três netos. E eu falo que ela me dá mais trabalho porque ela precisa de fralda e a neta dela de 10 anos está com problema de coração. Consegui cartão alimentação para ela, mas eu queria conseguir também um computador para a aula das crianças. Porque quando ela quer participar das reuniões com a gente, e online é a única forma que ela pode, fica aquela briga porque é um celular só", conta.
Para além da indenização futura, a conversa de Dona Zilda com a defensoria é para garantir o quanto antes os remédios que as mães por ventura precisem, além do auxílio psicológico. "Eu falei para a defensoria, que estou fazendo um serviço social e quem tinha que fazer isso era o governo. O Estado tirou o braço direito dessas mães".
A indenização é também o Estado se responsabilizando por aquele crime. Tem muita gente que é contra isso porque acha que é uma espécie de cala boca para o movimento. Mas eu não vejo assim. Isso é resultado da ação delas. Não tem nada a ver dizer que as mães se venderam
Juliana de Farias, pesquisadora do movimentos de mães contra a violência policial















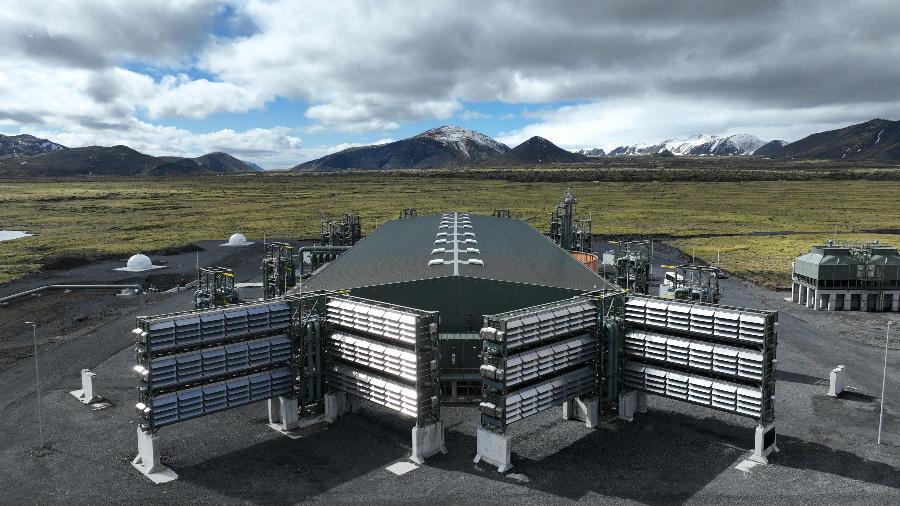
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.