Salada de sotaques leva o Brasil ao Mundial
Agência Folha
Em São Paulo
O técnico dita ordens em um quase japonês para o auxiliar cubano, que, em espanhol, orienta o rebatedor radicado nos EUA.
Foi essa salada de sotaques que levou a seleção brasileira de beisebol ao seu melhor momento na história. Graças ao inédito quinto lugar no Pan, o time conseguiu pela primeira vez, por méritos próprios, uma vaga no Mundial, que começa amanhã, em Cuba.
Há 31 anos, na Nicarágua, o Brasil foi pela primeira e única vez à competição, por convite. Tinha como arremessador principal Mitsuyoshi Sato, 56, atual técnico da equipe, no cargo desde 1983.
"Acho que os jogadores não têm noção do feito que conseguiram. Agora estamos andando com as próprias pernas", diz o japonês naturalizado brasileiro, que chegou ao país com dez anos, mas ainda fala com um carregado sotaque e opta pela língua natal para conversar com os conterrâneos.
No outro prato da balança, para equilibrar com o estilo zen de Sato, estão os auxiliares cubanos Pedro Omar Carrero e Luiz Valdés.
"Queremos ensiná-los a jogar com mais garra, a brigar em campo, serem aguerridos. Como nós, cubanos. Eles têm técnica e potencial, mas precisam acreditar mais", diz Valdés, 42, medalha de ouro nos Jogos de Barcelona-92.
O cubano não verá o time estrear amanhã contra o Panamá. Ele ficou na Academia de Beisebol em Ibiúna (a 64 km de São Paulo) com os times de base, que mantém o Brasil entre os melhores do mundo até a categoria júnior.
"Depois, os meninos crescem e precisam estudar e trabalhar. Em Cuba, você tem de estudar antes de se tornar profissional. Eu só comecei a jogar aos 20", diz Carrero, 54, três vezes campeão mundial, que será a voz cubana da seleção na ilha de Fidel Castro.
Ele chegou ao Brasil há nove meses graças a um convênio mantido entre a federação cubana e a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol. Carrero e Valdés recebem salário da CBBS.
Sob o comando da dupla nipo-caribenha estarão nove atletas que atuam fora do país.
Sete deles decidiram se aventurar no Japão e jogam por universidades, empresas ou nos times inferiores dos clubes profissionais.
Os outros dois jogam nos EUA, nas equipes de base da MLB (liga
profissional norte-americana).
"É difícil para a gente se adaptar. Além de treinarmos menos lá nos EUA, a postura dos americanos é diferente. Aqui na seleção temos a presença muito forte da cultura oriental", diz Marcel Viana, arremessador do Atlanta.
Como Tiago Magalhães, rebatedor do Cincinatti, ele disputa cerca de 140 jogos de abril a setembro, a maioria à noite. E, depois das partidas, sempre sai.
"Por sermos do time, temos regalias na balada", contra Magalhães, que, como os outros estrangeiros da seleção, foi descoberto por olheiros no Brasil.
A vida é mais resguardada no Japão, mas a relação com o esporte é a mesma. No exterior, os atletas, quase desconhecidos no Brasil, são tratados como profissionais. "No Japão a gente tem fãs, sai com os diretores da empresa com tudo pago", contra Estevão Sato, um dos três filhos do técnico brasileiro que estão na seleção.
O jogador atuou por sete anos no time da Mitsubishi. Foi contratado como funcionário comum, mas sua atribuição principal era jogar. "No fim das contas, eu só batia cartão", conta.
Um exemplo do interesse das empresas japonesas nos talentos nacionais está na academia de Ibiúna, construída em 1999 pela Yakult ao custo de US$ 4 milhões. O espaço, com três campos, piscina e refeitório, serve para treinos e recebe campeonatos.
A venda de atletas, ainda incipiente, já rendeu dividendos à CBBS. As idas de Norberto Rocha e Vitor Katayama ao Japão custaram US$ 600 mil. Outra fonte de renda da entidade é a Lei Piva, que repassou neste ano R$ 600 mil, verba oriunda das loterias.
Em São Paulo
O técnico dita ordens em um quase japonês para o auxiliar cubano, que, em espanhol, orienta o rebatedor radicado nos EUA.
Foi essa salada de sotaques que levou a seleção brasileira de beisebol ao seu melhor momento na história. Graças ao inédito quinto lugar no Pan, o time conseguiu pela primeira vez, por méritos próprios, uma vaga no Mundial, que começa amanhã, em Cuba.
Há 31 anos, na Nicarágua, o Brasil foi pela primeira e única vez à competição, por convite. Tinha como arremessador principal Mitsuyoshi Sato, 56, atual técnico da equipe, no cargo desde 1983.
"Acho que os jogadores não têm noção do feito que conseguiram. Agora estamos andando com as próprias pernas", diz o japonês naturalizado brasileiro, que chegou ao país com dez anos, mas ainda fala com um carregado sotaque e opta pela língua natal para conversar com os conterrâneos.
No outro prato da balança, para equilibrar com o estilo zen de Sato, estão os auxiliares cubanos Pedro Omar Carrero e Luiz Valdés.
"Queremos ensiná-los a jogar com mais garra, a brigar em campo, serem aguerridos. Como nós, cubanos. Eles têm técnica e potencial, mas precisam acreditar mais", diz Valdés, 42, medalha de ouro nos Jogos de Barcelona-92.
O cubano não verá o time estrear amanhã contra o Panamá. Ele ficou na Academia de Beisebol em Ibiúna (a 64 km de São Paulo) com os times de base, que mantém o Brasil entre os melhores do mundo até a categoria júnior.
"Depois, os meninos crescem e precisam estudar e trabalhar. Em Cuba, você tem de estudar antes de se tornar profissional. Eu só comecei a jogar aos 20", diz Carrero, 54, três vezes campeão mundial, que será a voz cubana da seleção na ilha de Fidel Castro.
Ele chegou ao Brasil há nove meses graças a um convênio mantido entre a federação cubana e a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol. Carrero e Valdés recebem salário da CBBS.
Sob o comando da dupla nipo-caribenha estarão nove atletas que atuam fora do país.
Sete deles decidiram se aventurar no Japão e jogam por universidades, empresas ou nos times inferiores dos clubes profissionais.
Os outros dois jogam nos EUA, nas equipes de base da MLB (liga
profissional norte-americana).
"É difícil para a gente se adaptar. Além de treinarmos menos lá nos EUA, a postura dos americanos é diferente. Aqui na seleção temos a presença muito forte da cultura oriental", diz Marcel Viana, arremessador do Atlanta.
Como Tiago Magalhães, rebatedor do Cincinatti, ele disputa cerca de 140 jogos de abril a setembro, a maioria à noite. E, depois das partidas, sempre sai.
"Por sermos do time, temos regalias na balada", contra Magalhães, que, como os outros estrangeiros da seleção, foi descoberto por olheiros no Brasil.
A vida é mais resguardada no Japão, mas a relação com o esporte é a mesma. No exterior, os atletas, quase desconhecidos no Brasil, são tratados como profissionais. "No Japão a gente tem fãs, sai com os diretores da empresa com tudo pago", contra Estevão Sato, um dos três filhos do técnico brasileiro que estão na seleção.
O jogador atuou por sete anos no time da Mitsubishi. Foi contratado como funcionário comum, mas sua atribuição principal era jogar. "No fim das contas, eu só batia cartão", conta.
Um exemplo do interesse das empresas japonesas nos talentos nacionais está na academia de Ibiúna, construída em 1999 pela Yakult ao custo de US$ 4 milhões. O espaço, com três campos, piscina e refeitório, serve para treinos e recebe campeonatos.
A venda de atletas, ainda incipiente, já rendeu dividendos à CBBS. As idas de Norberto Rocha e Vitor Katayama ao Japão custaram US$ 600 mil. Outra fonte de renda da entidade é a Lei Piva, que repassou neste ano R$ 600 mil, verba oriunda das loterias.




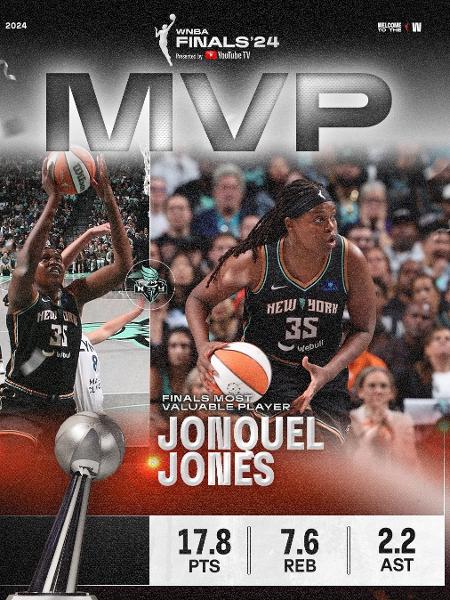




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.