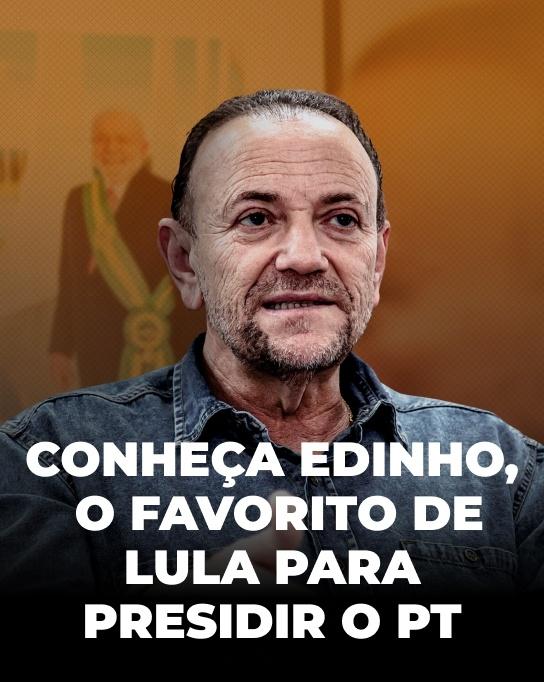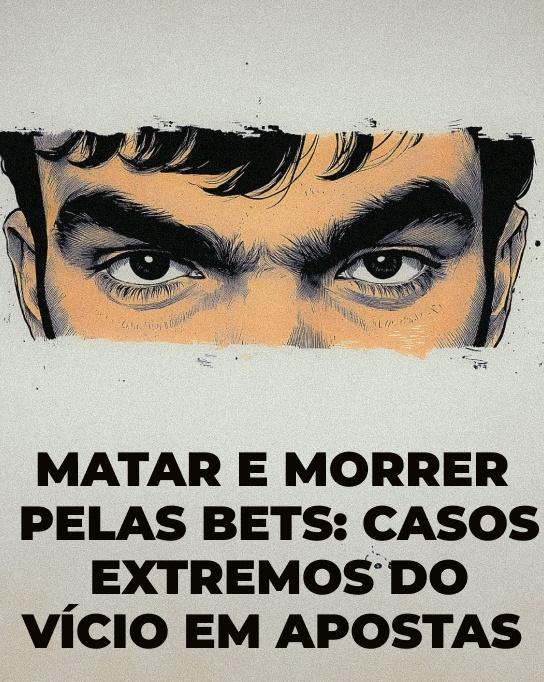Sou Miraildes Maciel Mota, mas não me chame pelo meu nome. Hoje, ninguém mais me conhece desse jeito, exceto uma ou outra vizinha. Desde pequena já não me chamavam assim. Quando menina, era "Mira". Mira em casa, na escola —as tias da cantina falavam Miraildes, confesso—, no futebol da rua. Mas, há quase 30 anos, sou Formiga. E gosto de ser Formiga.
No começo, lá quando um torcedor aleatório me chamou de Formiga pela primeira vez, odiei. Ele achava que eu corria para todo lado, por todo campo, que nem uma formiguinha. Problema dele! E odiei mais ainda quando as meninas do time inventaram de repetir o apelido. Começou com uma. Ela ouviu o grito do cara na torcida e decidiu encher meu saco, repetindo incessantemente que, a partir daquele momento, eu seria Formiga. Me subiu um ódio, uma raiva, que saí na porrada. Ela era alta, eu era baixinha, então não conseguia socar a cara. Esmurrei o abdômen e chutei as canelas. Não adiantou. Lá de cima, ela me olhava e ria, num ciclo sem fim de raiva que me abastecia.
Minha reação ridícula fez com que as outras entrassem na provocação. Mas eu não queria ser Formiga. Me imaginava com aquelas anteninhas, um horror. Só que apelido, quando a gente não gosta, aí que pega. Muito tempo depois, fui perceber que minha reação exacerbada e um tanto descontrolada era só um reflexo de como tinha sido minha vida até aquele dia. Cresci convivendo com agressões e punição, normalizei tudo isso por muito tempo. As violências, depois de eu me fortalecer como mulher, não cessaram. Sou mulher, preta, lésbica e jogadora de futebol, imagine só? É bingo. Mas minha forma de lidar com essa violência, essa sim, mudou.
Sou Miraildes Maciel Mota, mas não me chame pelo meu nome. Sou Formiga. E essa é a minha história.