
Que cabelo ruim, melhor cortar
Um zumbido atrás da orelha, coceira no pescoço e o mesmo semblante no espelho: cabelo raspado. Foram 16 anos passando pelo ritual de sempre na cadeira do cabeleireiro. Enquanto alguns cortavam com tesoura e faziam penteados e topetes, para mim sobrava o pente um, dois ou mesmo passar a zero.
Hoje tenho 21 anos. Quem me vê, logo me reconhece pelo crespo rebelde, sem definição e que gosta do volume. Fico feliz em ser minha marca. Mais ainda por entender o significado: black power dos Panteras Negras, de Elza Soares em "A Carne", de Tony Tornado na "BR-3", de Tim Maia, de Emicida, de Leci Brandão, de Negra Li, de Taís Araújo, de alguém que lá atrás fez da rebeldia uma essência. Coisa que alguns homens só passaram a descobrir durante a pandemia de coronavírus.
Nasci em 2000, virada do século. Na adolescência já tive consciência que ser negro no Brasil implicava em questões mal resolvidas desde 1500 e 1888. Não era só por um "não faz meu tipo" que eu deixava de ser o preferido nas descobertas amorosas com meninos e meninas. E não era só por praticidade que sempre era aconselhado a raspar meu cabelo. Não era por coincidência mais de 75% dos 10% mais pobres serem negros.
Lembro de agosto de 2016 quando um primo meu perguntou: 'não quer deixar crescer? Tem uma esponja que enrola, faz nudred'. E ali me descobri: tinha um cabelo. Ruim? Não, 'bonzão'!.
E com nome e sobrenomes: 'Prazer! Crespo tipo 2ABC, 3ABC, 4ABC...'
Só que não é "de ontem para hoje que ser preto virou legal", como diz a letra da música "Bang" e da realidade. Experimentei na pele uma outra forma de racismo: as piadas e brincadeiras. Ouvi aquela comparação que a Ludmilla ouviu, vi gente pedindo para eu fazer uma hidratação, pentear o cabelo, paqueras e amigos com vergonha de postar foto comigo, gente na rua pedindo para tocar, outras para alisar porque seria mais fácil de arrumar um emprego.
Do corte para a descoberta da estética. No meio desse caminho não faltou racismo, insegurança e traumas. Mas cruzei e hoje me orgulho de carregar um black power. Só que dói ver um reality show com um homem comparando esse cabelo, com história de resistência, respeito e autoafirmação, com algo primitivo, em mau estado, sem cuidado, das cavernas. E dói mais ainda ver João Luiz chorar. Uma dor que vem de cativeiro, de anos de escravatura, de não ser lido como ser humano e ter direitos básicos negados, como o acesso a educação. Não era simples mágoa, caro apresentador.
Parece que ouvi a mesma maquininha sem pente passando pela minha cabeça. Os mesmos comentários, os mesmos olhares de desaprovação na escola, nas lojas — com um segurança atrás —, na família. Arrancam nosso cabelo com nossas raízes a cada piada. Até mesmo o direito a dor é questionado: "por que ele não explicou?"






















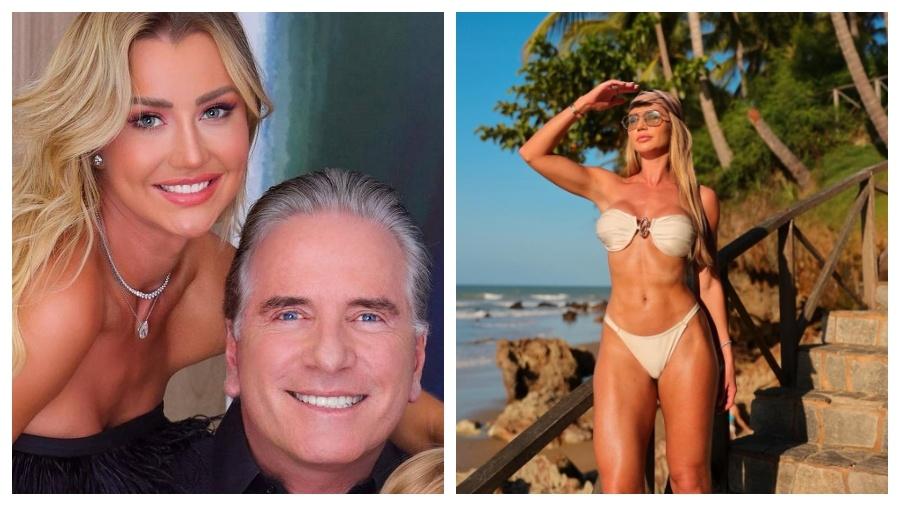
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.