SUS pode deixar de ser porta de saída da violência

Mudança em lei que entra em vigor hoje pode afastar mulheres do sistema de saúde como alternativa à polícia na busca por ajuda em situações de violência
Nem a delegacia, nem um Centro de Referência da Mulher, mas sim o SUS foi a primeira opção de atendimento que a professora da rede pública municipal de ensino e educadora popular, Lorena (nome fictício para preservar a identidade da fonte), 66, procurou ao sofrer violência doméstica. Moradora do distrito de Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo (SP), já passava das três horas da manhã no dia 20 de julho de 2019, quando ela chegou à UBS Engenheiro Goulart - a mais próxima da sua residência - com dores fortes e dificuldade em se locomover devido a uma agressão sofrida do marido.
Contrariando as orientações dos protocolos e normativas técnicas vigentes, ela não recebeu nenhum tipo de acolhimento ou encaminhamento no atendimento. Foi apenas orientada a buscar outro hospital para fazer um raio-x no ombro.
Somente no dia seguinte, ela foi até o Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, também na Zona Leste. Lá, precisou iniciar todo o processo de atendimento novamente, mas conseguiu realizar o exame, que apontou uma clavícula quebrada. Ainda na triagem, relatou a agressão e, desta vez, foi informada sobre o procedimento para a realização do boletim de ocorrência e a equipe do Núcleo de Prevenção à Violência acionou a assistente social responsável, que passou a acompanhar seu caso.
"A assistente social começou a acompanhar cada consulta que eu ia e cada vez que eu ia no hospital eu passava na sala dela e ela conversava comigo", conta Lorena.
Segundo a educadora, foi a assistente social que a ajudou a compreender como tinha se dado a violência, como havia sido o atendimento lá dentro, quais eram os seus direitos e quais caminhos ela poderia tomar. "O atendimento me alertou dos cuidados que eu deveria ter em relação a não ficar sozinha aqui na casa, de quando eu for sair observar porque ele [marido] poderia voltar. A gente não sabe, né, até que isso se conclua, o risco que corre uma mulher de ser morta", relata.
Naquele momento, Lorena queria apenas se proteger e cuidar da saúde. Não pensava em fazer boletim de ocorrência ainda e sua vontade foi respeitada no hospital. Se ela tivesse sofrido a violência agora, em março de 2020, a história seria diferente: o serviço de saúde teria a obrigação de notificar a polícia sobre a violência, para a realização do B.O.
Entrou em vigor nesta terça (10) a lei uma alteração na lei No13.931, que torna obrigatória a denúncia à polícia em até 24 horas pelos hospitais ao atender uma mulher vítima de violência doméstica, mesmo que haja apenas indícios da violência, sem que ela expresse o que houve.
A mudança levanta discussões sobre a perda da autonomia e direito de escolha das mulheres, além de trazer a preocupação de que muitas mulheres deixem de procurar atendimento. Se até então o serviço de saúde era considerado uma porta de entrada das mulheres na rede de atendimento à mulher vítima de violência, especialistas temem que a mudança na lei feche mais essa porta para elas.
O SUS e a prevenção de feminicídio
É alto o número de mulheres que sofre violência e procura um hospital ou UBS em busca de ajuda. Somente em 2018, o SUS (Sistema Único de Saúde) registrou 145 mil casos de violência contra a mulher, o que significa um caso de agressão a cada quatro minutos, segundo levantamento da Folha de S.Paulo com dados do Ministério da Saúde.
Entre elas, cerca de 70% foram agredidas em sua própria casa por uma pessoa próxima.
Em 2019, o AMA e a UBS Engenheiro Goulart, procurado por Lorena, notificaram 142 casos de violência contra a mulher, de acordo com dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do município de São Paulo. O distrito de Cangaíba, ao qual a UBS pertence, é um dos 20 piores de São Paulo em notificação de agressão a mulheres, segundo o Mapa da Desigualdade da cidade.
A percepção de que o sistema de saúde público tem um papel importante no combate à violência é recente. O primeiro protocolo do Ministério da Saúde orientando as práticas na atenção básica para lidar com a violência foi lançado em 2002. Em 2016 o governo federal aprofundou a discussão com a publicação do "Protocolo da Atenção Básica: saúde das mulheres". O documento orienta, por exemplo, a abordar a mulher com empatia, a identificar os riscos que a vítima sofre, a criar um plano de trabalho com ela e oferecer encaminhamentos psicológicos e sociais, bem como esclarecer sobre seus direitos.
O objetivo das orientações é trabalhar a prevenção de novas violências e, principalmente, do feminicídio.
"Acima de tudo a gente precisa cada vez mais sensibilizar os profissionais de saúde para que tenham um olhar para essa mulher que sofre violência doméstica. Quantos feminicídios nós poderíamos ter evitado com atenção à mulher que chega lá com o olho roxo na unidade dizendo que caiu da escada e o profissional com uma escuta um pouco mais refinada e qualificada conseguiria perceber que não era exatamente isso?", pontua Leila Rocha, enfermeira, pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas com recorte em gênero e raça pela UFBA, e articuladora do eixo Saúde do Coletivo de Oya - Mulheres Negras da Periferia.
A nível municipal, desde 2015, as UBSs de São Paulo devem contar com o NPV (Núcleo de Prevenção à Violência). A portaria da Secretaria Municipal de Saúde instituiu o programa como forma de estruturar uma Rede de Atenção Integral aos usuários do SUS, integrando os equipamentos de atendimento.
A UBS Dom Angélico, na Cidade Tiradentes, periferia da Zona Leste de São Paulo, se tornou referência no território após ter participado de um curso promovido pelo Ministério Público para capacitar os profissionais da atenção básica. Os agentes de saúde começaram um mapeamento na região para saber quais eram os equipamentos disponíveis para ajudar as mulheres que estão em situação de violência.
Neste trabalho se aproximaram, por exemplo, da Casa Anastácia, um centro de cidadania da mulher capacitado para oferecer apoio psicológico, jurídico e encaminhamentos necessários no atendimento às vítimas.
Lacunas no Sistema
No hospital, Lorena foi informada que tinha direito à atendimento psicológico e que poderia, caso desejasse, ser encaminhada para uma casa de apoio. A assistente social passou uma lista com uma série de endereços de equipamentos que poderiam acolhê-la. Ao consultar a lista, a professora se deparou com diversos endereços desatualizados, incluindo o Centro de Referência de São Miguel, que já tinha sido fechado pela gestão de João Doria.
"Da lista, a única que funcionava era a Casa de Isabel, mas para mim que tô aqui com problema de locomoção, o que eu ia fazer em Guaianases a pé, com o braço quebrado? Quem ia me levar?", questiona. Mesmo assim, Lorena diz que sempre elogia o atendimento da assistente social uma vez que foi ela quem a acompanhou em toda a sua passagem pelo hospital e que manteve contato para saber se procurou ou não a ajuda necessária.
Para Leila Rocha, o SUS ainda tem uma série de lacunas para conseguir atender integralmente as necessidades de uma mulher que sofre violência doméstica. Segundo ela, o SUS tem políticas para acolher essas mulheres, no entanto, na prática, isso ainda não acontece.
"Ainda é necessário uma sensibilização dos profissionais de saúde e da gestão para que essa mulher seja atendida integralmente. Qual é a nossa tarefa de profissional de saúde? A nossa tarefa é sanar os danos físicos que aquela mulher sofreu, essa é a nossa primeira tarefa. E para essa tarefa nós estamos ok. Mas o seguimento do caso? Essa mulher é encaminhada para acompanhamento psicológico ou psicossocial? Então são fragilidades ainda. E se essa mulher quer denunciar, como isso acontece?", pontua.
Catarina dos Santos, agente comunitária de saúde há nove anos na UBS Dom Angélico, critica esta falha no sistema. "Essa mulher tem que sair sim do posto de saúde, que é a referência dela e de onde ela mora, com todas as orientações para sair desse ciclo de violência caso ela queira. Ela tem que receber não só ajuda pra cuidar do físico, ela precisa ser orientada sobre os seus direitos, onde elas podem procurar ajuda. Esse é o papel da saúde", afirma.
Cenário tende a piorar com mudança na lei
Somente depois do primeiro atendimento, Lorena decidiu fazer um BO (Boletim de Ocorrência) e um pedido de medida protetiva. No primeiro momento, ela ficou indecisa se deveria, de fato, prosseguir com o caso. "Fiquei pensando que a nossa filha ia ficar esperando o pai e ele ia ser preso. Me deu um desespero sabe. Iam saber que por causa do que tinha ocorrido comigo o pai dela tinha sido preso e levado", lembra.
Lorena optou por seguir adiante e procurou a DDM de Itaquera, 4 dias depois. Na sequência, foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal). O médico que a atendeu durante o exame brincou com sua situação. "Nada que uma boa conversa junto com os filhos não resolva, né?", disse o médico. "Quando eu voltei pra fazer o segundo corpo de delito, ele falou assim: 'ah, mas a senhora não voltou [para o marido] né? Não vai correr atrás dele se ele voltar'. Eu falei: 'lógico que não'. Mas ele retrucou: 'é porque vocês estão acostumadas, mulher é fogo né'", conta Lorena.
Se já existem falhas no sistema, as especialistas acreditam que o desempenho da função do SUS como porta de entrada na rede de acolhimento à mulher tende a piorar com a mudança na lei que obriga a notificação à polícia. Isso porque a novidade pode fazer com que muitas mulheres deixem de buscar ajuda médica ou de informar a violência.
Desde 2003, a lei no 10.778 estabelecia que qualquer serviço de saúde - público ou privado - realizasse a notificação compulsória dos casos de violência doméstica somente ao Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), como forma de monitorar os casos de violência doméstica. Até dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde definia a notificação como um instrumento de garantia de direitos e ingresso da mulher vítima de violência à rede assistencial, mas isentava os serviços de saúde de denunciar o caso às autoridades policiais. Caso Lorena não desejasse registrar o boletim de ocorrência, sua escolha deveria ser respeitada.
Com a alteração da lei, que entra em vigor nesta terça (10), passa a ser obrigatória a denúncia à polícia em até 24 horas, levantando discussões sobre a perda da autonomia e direito de escolha das mulheres. A agente de saúde Catarina dos Santos conta que ao longo dos nove anos de experiência lidando com mulheres vítimas de violência doméstica viu que muitas delas não querem denunciar seus agressores à polícia, às vezes, por não entenderem o ciclo de violência que estão inseridas.
Com a obrigatoriedade da denúncia, a chance de uma mulher deixar de procurar ajuda no serviço de saúde pode aumentar, o que preocupa boa parte dos profissionais de saúde.
"O que nós temos que fazer é levar conhecimento para que ela entenda os tipos de violência e, se caso ela não queira mais conviver com essa situação, onde ela pode procurar ajuda. Esse é o papel da saúde. Não é obrigar aquela mulher a denunciar. A saúde não tem um papel policialesco e a decisão de denunciar é pessoal e individual de cada mulher e, deve ser respeitada", enfatiza a agente de saúde.
Para a deputada Mara Rocha (PSDB-AC), relatora da lei durante a sua tramitação, a proposta aumenta a rede de proteção à mulher. "Além das confirmações dos indícios de violência, será possível melhorar a adoção de medidas protetivas", afirmou à Agência Câmara de Notícias.
Perceber a violência e sair não é simples
Esta não foi a primeira vez em que Lorena foi vítima de violência, mas foi a primeira em que conseguiu, de fato, denunciar. No Brasil, de acordo com a segunda edição da pesquisa "Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil", do Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicada em 2019, a maioria das mulheres continua sendo vítima de violência mais de uma vez dentro de casa (42%) - não apresentando variação em relação ao verificado pela primeira edição da pesquisa, publicada em 2017.
Apenas 10% relataram ter buscado uma delegacia da mulher após o episódio mais grave de violência sofrida e 52% das mulheres alegaram não ter feito nada após a agressão.
O histórico de Lorena reflete bem o ciclo ao qual milhares de mulheres são submetidas antes de conseguirem se informar e achar caminhos de refúgio. Seu primeiro casamento foi aos 18 anos, no qual teve dois filhos. Com o marido alcoólatra, e sem saber para quem pedir ajuda, ela conta que ainda no puerpério do primeiro filho ela sofreu uma das primeiras agressões quando foi acordada pelo marido no meio da noite, que lhe bateu com uma tábua de carne na cabeça. Quando acordou ainda em choque pelo que havia acontecido, escutou dele que ela manteria relações sexuais nem que fosse com ela morta. "Eu fui agredida, violada, estuprada por ele", conta.
Para o ginecologista Jefferson Drezett, que dirigiu durante 24 anos o setor de violência sexual do Hospital Pérola Byington, em São Paulo, as questões culturais da sociedade dificultaram possíveis avanços em políticas públicas. "A gente ainda vivia um momento de muita tolerância social em relação àquilo que acontecia na vida privada das mulheres com os seus parceiros", explica.
Na separação, Lorena foi ameaçada com um revólver e precisou deixar o filho com seu agressor. Aos 24 anos voltou a estudar e, depois de concluir o ensino médio, entrou para a faculdade de História. Nesta época, ela se envolveu com o movimento de mulheres e, como diz, se tornou feminista. Além disso, conseguiu voltar a conviver com todos os filhos.
Pouco tempo depois se casou novamente, mas o novo relacionamento acabou por repetir o anterior. Desta vez, as agressões físicas deram lugar à psicológica. "Na verdade, havia uma violência velada que eu mesma não conseguia identificar", diz. Na época, Lorena trabalhava como educadora coordenando a equipe multidisciplinar da Fundação SOS Criança, de Violências e Maus Tratos contra Crianças e Adolescentes da cidade de São Paulo. "Era impossível eu estar num trabalho como esse e eu ser agredida e os meus filhos passarem por qualquer tipo de ameaça dentro de casa", diz.
Só 10 anos depois Lorena conseguiu se separar judicialmente. Uma de suas filhas, que havia se formado em Direito, a defendeu no tribunal. "Mesmo sendo feminista e tendo consciência de tudo isso, por conta de toda dificuldade que nós mulheres passamos nessa sociedade, onde nem mesmo as pessoas que estão próximas a você acreditam no que você está falando, imagina a dificuldade que eu tive de levar isso adiante", explica.
Com a separação oficial, o ex-marido foi obrigado a lhe pagar a parte do terreno que haviam comprado juntos e que ela tinha sido obrigada a deixar para trás. Em 2017, quase 23 anos depois do término, os dois voltaram a ter contato e reataram. Até julho de 2019, com a agressão que a fez procurar a UBS, ele não tinha se mostrado violento. Mas, hoje, Lorena afirma que sabe que vinha sofrendo violência psicológica há muito tempo.
Sobre o SUS ser uma porta de saída para a violência, Lorena é categórica. "Se não houver um esforço conjunto de órgãos públicos, da sociedade, de nós mulheres de todas as categorias - não de classes sociais porque eu não acredito que uma mulher da classe alta vai se preocupar com esse tipo de problema que a gente passa aqui na periferia -, as coisas não vão funcionar", diz.
Para o médico Jefferson Drezett, a falta de uma estrutura mínima, que além de cuidar da saúde também ofereça aconselhamento e recomendação adequada às mulheres sobre os seus direitos, é fruto da falta de investimento do Estado brasileiro. A gestão atual, segundo ele, vem tornando as políticas públicas existentes inacessíveis para as mulheres. Um exemplo é a mudança na lei que está entrando em vigor.
"A gestão federal não tem apreço nenhum por esse tema, nenhum. Agora, quem é que fica com a conta mais perversa de todo esse processo? São as mulheres, principalmente das periferias de São Paulo, que têm menos recurso e que dependeriam mais localmente no seu território de resolver essa questão. E essas mulheres não estão encontrando resposta para isso. E são essas mulheres que têm menos voz. Basicamente, uma população predominantemente negra, pobre e da periferia de São Paulo", explica.
*Colaborou Letícia Fialho



















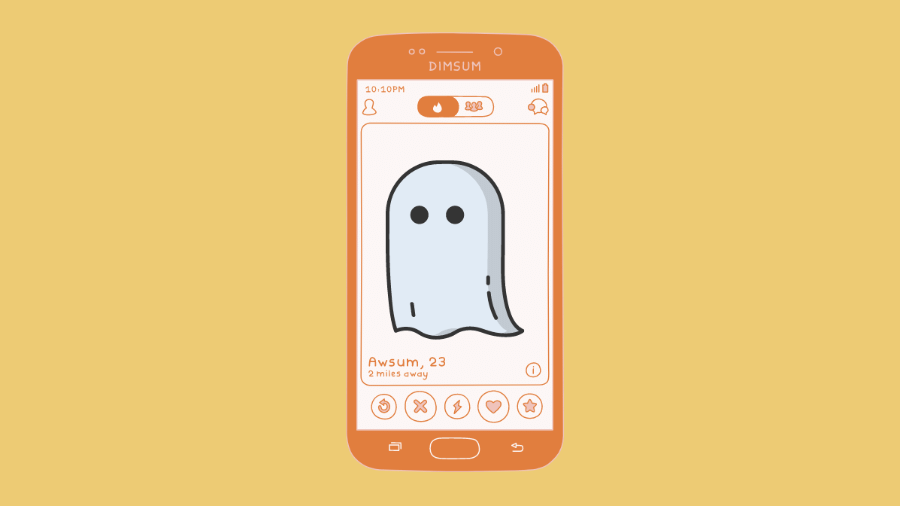

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.