Débora, do Mães de Maio, luta por memória: "Meu filho morreu por ser preto"

No último domingo, Débora Maria da Silva completou 61 anos. Avisou às filhas e aos netos que não iria comemorar a chegada de mais um ano nem o Dia das Mães. Para a fundadora do movimento social Mães de Maio, da Baixada Santista, no litoral paulista, o mês é atravessado por sofrimento. "Eu sou leoa o ano inteiro. Mas maio é minha tortura", afirma.
Desde 2006, Débora vive para honrar a memória de seu filho, o gari Edson Rogério Silva dos Santos, que foi uma das vítimas dos chamados "Crimes de Maio", ações atribuídas a grupos de extermínio em resposta a ataques do Primeiro Comando da Capital, o PCC, que deixaram o estado de São Paulo em choque. O movimento Mães de Maio, liderado por ela, surgiu naquele mesmo ano, depois que ela resolveu procurar outras mães que se reergueram para ir ao front da luta por justiça e para não deixar a morte dos filhos em vão — foram, ao todo, 564 assassinatos.
Rogério, como Débora chama o filho, foi morto em um posto de gasolina e seu corpo foi encontrado, diz a mãe, "na subida do Morro da Caneleira", em Santos. Débora soube que seu filho havia sido assassinado ao ouvir o programa de rádio policial local — que enumerou o nome de 14 jovens que perderam a vida entre a noite do dia 14 e madrugada do dia 15 daquele maio.

Débora atribui a morte do filho a PMs e entende que houve uma motivação racial. "Meu filho morreu porque era preto", analisa. Rogério foi abordado por duas viaturas policiais no posto ao qual foi para tentar comprar gasolina para moto. "Segundo um amigo que foi ajudá-lo, eles disseram para Rogério: 'Neguinho, morreu, virou ladrão'."
Há 14 anos, a rede vai "se tornando infinita", diz Débora, referindo-se ao fato de o movimento Mães de Maio servir de inspiração para que outras mulheres denunciem a violência do Estado, que vitimiza jovens, negros e pobres, no Brasil e no mundo.
Em 2016, a mensagem delas virou poesia em participação no clipe da música "Chapa", do rapper Emicida. Débora e outras integrantes do movimento — Maria das Graças, Vera Lucia Gonzaga, Fatima dos Santos Pinho e Ana Paula Gomes de Oliveira — são as protagonistas da produção. "Mal posso esperar o dia de ver você voltando pra gente", diz o refrão, sobre a saudade de um "chapa" que sumiu e ninguém sabe o motivo real. O esclarecimento do caso de Rogério, aliás, nunca chegou.
Em 2013, o governo estadual de São Paulo estabeleceu 12 de Maio como o Dia das Vítimas do Estado Terrorista brasileiro - Dia de Luta das Mães de Maio. As mães contabilizam mais uma vítima: em 3 de maio de 2018, Verinha, mãe da vítima Ana Paula, foi encontrada morta em sua casa. Na época, havia a hipótese de suicídio por envenenamento.
A seguir, Débora revisita lembranças dos últimos dias de seu filho e fala sobre de onde veio sua força para se reerguer após a morte de Rogério. Comenta ainda que a pandemia do novo coronavírus e o descaso do Estado no cuidado da população, mais uma vez, coloca pretos e pobres no alvo.
Quem vai morrer são os nossos. Como mãe, espero, no entanto, que uma nova sociedade seja parida após a pandemia.
Flores de plástico, almoço de domingo
"No meu aniversário de 2006, Rogério operou o siso, então eu fiz um cozido para ele levar para a casa dele. Só que à noite ele apareceu lá em casa. Queria colo, era muito apegado a mim.
Ele chegou perguntando do padrasto, e avisou pra gente que estava um clima muito pesado lá fora. Ele tinha conseguido ingresso para irmos na escolha do samba-enredo da [escola] Unidos do Morro, porque ele fazia uns bicos lá de ficar no caixa. Eu falei que nem queria ir. Depois até ouvi que havia passado um motoqueiro atirando lá na quadra da escola de samba — atingindo oito pessoas e levando um segurança a óbito.
Rogério voltou lá em casa para nosso almoço de domingo, com o filho dele, o Liniker. Deixou o menino comigo, saiu e voltou com uma sacolinha de loja de R$ 1,99 com duas flores de plástico: uma amarela e outra rosa. Eu não gostava de nenhuma dessas cores, mas tive esse vasinho com os dois lírios por muito tempo, até eles começarem a desmanchar.
Minhas filhas, Katia e Kelly, também foram com os filhos. Quando Rogério foi comer o churrasco, o dente começou a sangrar, então ele foi se deitar. A gente ligou a TV e viu uma mãe chorando no enterro do filho, um bombeiro. Comecei até a chorar com a dor daquela mulher. Fui levar um pedaço de bolo para a minha vizinha e aproveitei para comentar que não era para os filhos dela ficarem na rua.
Rogério pegou os tupperwares das comidas, a moto e disse que ia embora. Ele comentou que não tinha entregado o atestado [da remoção do siso], porque já tinha levado outro por 15 dias, por ter retirado o outro dente, e tinha medo de perder o emprego. Então na segunda-feira ele precisava voltar ao trabalho. Ele me pediu um beijo e eu falei: 'Menino, cuidado com sua vida. Não saia, porque o clima não está bom, com a morte desses policiais e tudo'. Fiquei com o coração apertado.
Na segunda de manhã, um policial amigo da família me ligou para dizer que tinha acontecido uma chacina na Areia Branca [bairro da Zona Noroeste de Santos], próximo da minha casa. Fui até lá para saber se eu conhecia algum dos meninos que tinham sido mortos. Como tinham avisado do toque de recolher, precisei ir à creche do meu neto para buscá-lo. No caminho, dentro do ônibus, eu já estava agoniada, em pânico.
Quis avisar o Rogério sobre o que estava acontecendo, só que naquele dia ela tinha sido dispensado do serviço [ele era gari e limpava as ruas dos morros da cidade] e foi dormir em casa, porque ele estava com muita dor no dente. Ele tinha desligado o celular. Só umas dez da noite, com a boca ainda mais inchada por causa do siso retirado, ele apareceu na minha casa para pegar o remédio que tinha esquecido.
Ele disse que ia embora, mesmo eu falando para ele ficar. Me pediu R$ 10 para abastecer a moto. Só que nem deu tempo de chegar no posto. O combustível acabou, ele desceu e foi empurrando a moto até lá.
O que soube, depois, é que o frentista disse que não podia vender a gasolina, por causa do toque de recolher.
Em depoimento, esse frentista disse que Rogério, então, atravessou a rua para ir ao orelhão e pedir para um amigo socorrê-lo. Foi o amigo que viu, de longe, quando chegaram duas viaturas, um Gol e uma Blazer, e perguntou o que ele estava fazendo ali.
'Neguinho, se morrer, é ladrão'
Fizeram uma revista nele, Rogério disse que não devia nada, que era trabalhador. Bateu de frente com os policiais. Deram umas porradas nele. Meu filho falou para o amigo que os PMs tinham falado para ele: 'Neguinho, se morrer, é ladrão'.
Acontece que eles tinham trocado as motos. Rogério tinha ido para minha casa com a moto do amigo, mesmo sem gasolina, só para ir mais rápido — porque era mais potente. Quando meu filho pegou a sua própria moto de volta, saiu do posto de gasolina sozinho para ir em outro estabelecimento. Rogério foi subir o morro. E ali ele foi executado e já o 'socorreram' — entre aspas.
No dia seguinte de manhã, eu queria falar com ele, mas meu telefone não tinha crédito. Enquanto meu marido foi comprar cartão para recarregar, liguei a Rádio Polícia, na Cultura AM. E o jornalista disse que tinham corpos no IML, de pessoas de Santos, Guarujá e São Vicente. Ele falou a relação dos nomes. Fiquei escutando para ver se conhecia alguém.
E ele falou o nome do meu filho.
Comecei a gritar, não tinha chão. Meu marido achou que eu tinha escutado demais...Só que o Rogério estava identificado, ele estava com a funcional do serviço no bolso. E morreu do lado da moto.
Comecei a montar o quebra-cabeça a partir dali. Meu marido ligou para minha família, e minha filha e meu genro foram até o IML. Meu pai foi reconhecer o corpo. Naquele dia, foram 14 pessoas. Entre elas, uma mulher: a Ana Paula, que tinha 20 anos na época e estava grávida de nove meses.
No caso do Rogério, o B.O. mostrou que ele foi removido, só que não precisaria. Meu menino teve morte instantânea. Quem matou ele foi quem o abordou. Na minha investigação, por conta própria, descobri que ele foi executado contra o muro. Foram cinco tiros.
Mãe, investigadora, educadora popular

Desde o dia do enterro, eu comecei a investigar. Fui no posto de gasolina, na delegacia, atrás das câmeras de monitoramento do posto. Mas o delegado disse que as imagens eram apagadas de dois em dois dias, e já não tinha mais nada. Por outro lado, o frentista depôs falando que a abordagem da viatura tinha sido normal, sem espancamento; sendo que antes ele também tinha comentado que sabia que Rogério, 'o menino que passou no posto', tinha sido executado. Isso foi muito confuso.
Só que para mim, a história não podia ter uma vírgula nem ponto final. Eu ligava toda hora para o delegado. Fui me deprimindo, não comia, só chorava e fumava. Cheguei a pesar 35 quilos.
Um dia, no hospital, eu tive uma visão do Rogério. Ele chegou na minha cama, me sacudiu e disse:
Levanta daí, você é minha guerreira. Não quero a senhora aqui.
Quando acordei, não quis mais me deitar. Eu era uma dona de casa e tinha uma missão. O Mães de Maio ultrapassou fronteiras porque lutamos pela memória dos nossos filhos. Porque o Rogério recebeu uma pena de morte ali no posto — quando ele disse que era um gari. Um invisível. Ele era negro e, por isso, foi sentenciado.
Eu era pacata, não sabia falar direito. A única coisa que sabia fazer era cuidar dos meus filhos. Só que tive que virar investigadora, educadora popular, pesquisadora, por estar na frente do Mães de Maio.
Mães de Maio, mães do mundo

Nossa primeira ação foi uma visita à Ouvidora da Polícia, na capital, para falar dos nossos casos. Falei com as outras mães, ninguém tinha ido a São Paulo nunca. A gente estava morrendo de medo de se perder.
Foi na porta da Ouvidoria que a jornalista Rose Nogueira [que escreveu, em 2007, o livro "Crimes de Maio"] nos perguntou se a gente conhecia o movimento de mães da Argentina. E, em vez de sermos as 'Mães da Baixada', passamos a ser o 'Mães de Maio'.
Sempre fomos um levante que inspira outras mães a gritarem. Hoje, nos unimos a mães que tiveram seus filhos desaparecidos, mães de todo o Brasil, do Rio de Janeiro. Fora do país, temos conexão com as mães norte-americanas, mães das vítimas das Farc, mães de Cali. E em cada uma dessas mulheres que perde o filho para o Estado tem uma mãe de Maio.
Sinto que Rogério coloca as palavras na minha boca, porque quando termino minhas falas nesses lugares conto toda a nossa história.
Mortes naturalizadas
Neste ano, nossa luta tem outro lado. No meio de uma pandemia, é mais difícil lidar com o racismo, com o fascismo, com quem acha que a morte em decorrência dessas coisas é naturalizada. Porque quem vai morrer de coronavírus nas portas dos hospitais são os nossos. Os pobres que são vistos como serviçais dos ricos.
A gente precisa entender que as mulheres, e as mães que estão na linha de frente, têm uma luta que vem do útero. Nós estamos aqui para parir uma nova sociedade. E talvez, ela surja após essa pandemia. Mesmo com o fascismo em alta, talvez as pessoas possam ter outro olhar para o mundo."










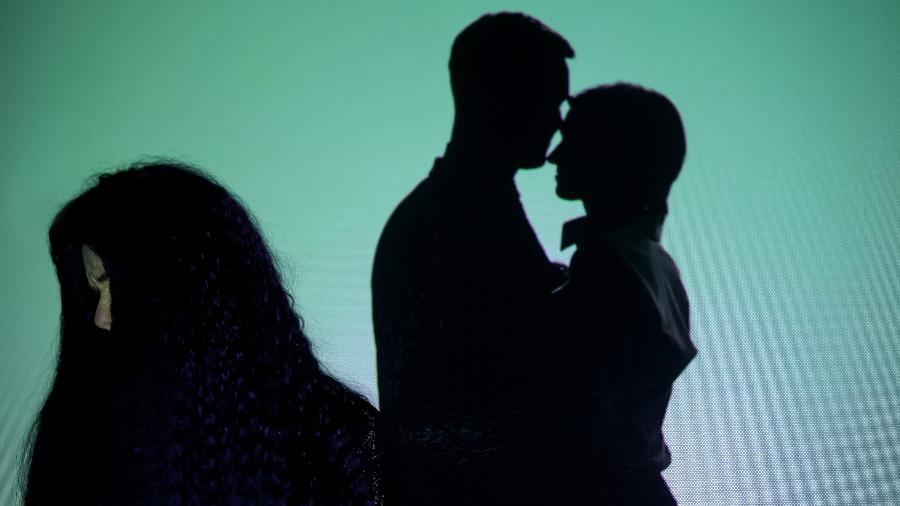






ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.