Será que a telemedicina pode ser a saída para melhorar as nossas UTIs?

Quem vai parar em uma UTI, a unidade de terapia intensiva de um hospital, nunca está ali por pouca bobagem. Seu corpo sofreu um tremendo insulto, um baque de uma hora para outra, seja por um acidente ou por uma doença.
Se isso já seria complicado, o que agrava o cenário é que, geralmente, a pessoa é portadora de doenças crônicas. Apesar da saúde fragilizada, ela terá de suportar tratamentos invasivos e, cá entre nós, um bocado agressivos para controlar todo tipo de perrengue que pode aparecer em situações críticas assim.
"É a combinação perfeita para dar errado", costuma dizer o médico intensivista Adriano Pereira, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E acrescenta: "Para quem é ansioso, a UTI é um bom ambiente. Se um diabetes ou uma hipertensão costuma levar mais de década para lesionar órgãos como os rins e o coração, ali todo dano aparece depressa. Os erros e os acertos se aproximam, ou seja, qualquer coisinha que a equipe faça pode causar, ligeiro, uma enorme diferença, para o bem e para o mal."
O médico é um dos autores de um estudo realizado pelo Einstein em parceria com o ISGlobal (Instituto de Saúde Global de Barcelona), por meio do PROADI-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde. Batizado de TELESCOPE 1, ele causou burburinho ao ser apresentado na quarta-feira passada, dia 9, durante o congresso da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, na Espanha. Pudera! Foi reconhecido como o primeiro trabalho científico do mundo a gerar evidências sobre o uso de telemedicina nas UTIs.
Publicado no mesmo instante pelo prestigiado JAMA (The Journal of the American Medical Association), o ensaio clínico envolveu mais de 17 mil pacientes de 30 UTIs de hospitais públicos distribuídos por 17 estados brasileiros. E faz uma belíssima provocação: será que contar com um médico intensivista experiente, dando orientações de maneira remota, seria uma boa? Isso porque o problema da falta de profissionais de Medicina para atuar nessas unidades existe. E, diga-se, existe no mundo inteiro.
Médico o quê?!
Mineiro vivendo há quase 20 anos em São Paulo — se descontar o período em que fez pós-doutorado na Suíça e na Bélgica, buscando novos tratamentos em porcos e ovelhas nos quais simulava doenças humanas e usava os mesmos equipamentos de uma UTI para gente como a gente —, o doutor relembra a época em que terminou a residência. "As pessoas perguntavam qual era a minha especialidade. Quando respondia que era Medicina Intensiva, elas insistiam: 'mas é Cardiologia ou o quê?'", conta.
Ele compreende o desconhecimento. A especialidade existe há menos de 100 anos. Antes disso, quem tinha uma doença grave simplesmente morria. "Mas, um pouco por conta das duas Grandes Guerras e um pouco pelo desenvolvimento das cirurgias, surgiram pacientes que precisavam de um lugar no hospital para ficarem em uma observação mais próxima." Leia, os tais cuidados intensivos.
Veio, ainda, a tecnologia para colaborar nessas situações. Os pulmões de aço inventados em 1928 — câmaras metálicas para abrigar vítimas da poliomielite que ficaram com os músculos da respiração paralisados — acabaram sendo os precursores dos ventiladores mecânicos que se tornaram famosos no período duro da covid-19, por exemplo.
A carência de intensivistas
Até por falta de oportunidade fora dos grandes centros, a escassez de intensivistas é global. "O movimento nos Estados Unidos para regulamentar a telemedicina nos anos 1990 aconteceu muito em função disso", diz o doutor Pereira. Os americanos chegaram a cogitar UTIs que, localmente, nem teriam médicos. Vale dizer que, por lá, os enfermeiros fazem procedimentos que, em lugares como o Brasil, só podem ser realizados por quem se formou em Medicina. O fato é que a ideia não foi adiante. Mas o conceito de tele-UTIs, sim.
O doutor Pereira é justamente o responsável pela tele-UTI do Einstein e acha que as dificuldades do Brasil são ainda maiores— como são maiores o seu território e as suas desigualdades. Grave isso: por aqui, contamos com apenas 25% dos médicos intensivistas que seriam necessários para cuidar dos leitos de UTI que já existem de norte a sul do país.
Entenda o estudo
Para o TELESCOPE 1, foram selecionadas 30 UTIs que não tinham um especialista o tempo inteiro. "E, principalmente, elas não tinham a figura do intensivista horizontal", explica o doutor Pereira, referindo-se ao médico mais sênior que passa em leito por leito todo santo dia, avaliando o deve ser feito.
Metade das UTIs, ou seja, quinze delas, não recebeu o auxílio da telemedicina. O restante ganhou câmeras e, graças a elas, um intensivista do Einstein ficava virtualmente à beira de cada leito por alguns momentos diariamente. Desse jeito, ele podia orientar o cuidado intensivo à distância.
Também eram realizados encontros mensais para revisar indicadores de qualidade, como o número de casos de infecção hospitalar. Para completar, foram gravados vídeos curtos, ensinando o que a equipe deveria fazer em vinte situações muito comuns em unidades de terapia intensiva.
Apesar de todo esse esforço, o resultado ficou aquém do esperado. Ora, o tempo médio de permanência dos pacientes na UTI foi de oito dias, tanto naquelas com telemedicina quanto nas que ficaram sem o acompanhando remoto. E as taxas de infecção e mortes também foram iguais.
É bem verdade que, embora não tenham sido UTIs dedicadas à covid-19, o estudo aconteceu entre junho de 2019 e julho de 2021, acertando em cheio no auge da pandemia. Isso deve ter atrapalhado. Mas fica a questão: será que a telemedicina, pensando nas UTIs, não faria a menor diferença? Adriano Pereira e seus colegas não pensam assim. E persistem.
Jogo de varetas
É desse jeito que o médico descreve a situação. "O problema é mais complexo do que a gente imaginava e, quando é assim, é difícil acertar de cara. Mas não que tudo tenha sido em vão", acredita. "Nossa estratégia deve ser como a de um jogo de varetas, em que começamos a mexer de fora para dentro. Como diriam em Minas, devemos comer o mingau pelas beiradas."
Ou seja, o TELESCOPE 1 serviu para mapear problemas. Esclareceu que a maior barreira não é tecnológica. Nenhuma UTI alegou que não tinha um bom sinal de internet para implantar a telemedicina. Mas, sim, às vezes faltaram medicamentos que seriam fundamentais. "O intensivista remoto indicava qual antibiótico seria mais eficaz para determinada infecção e o remédio estava em falta", recorda-se o doutor Pereira. "Depois, víamos que o responsável por compras não sabia do que a UTI precisava e o pessoal da UTI não sabia quem era o responsável por compras."
Também se notou uso de equipamentos errados e complicações de procedimentos que possíveis de serem evitadas. A triste realidade é a seguinte: a maioria das mortes aconteceu por causas que, em tese, poderiam ter sido revertidas.
"Criamos uma estratégia simples, em que bastava um equipamento com câmera e um intensivista do outro lado, com o objetivo de facilitar sua replicação pelas UTIs do Brasil depois. Afinal, o objetivo é usar a telemedicina para promover equidade em saúde. Mas, disponibilizando só um intensivista, não foi o suficiente" conclui o doutor.
Um novo estudo: o TELESCOPE 2
Tiradas as primeiras "varetas" do jogo, os pesquisadores irão mais fundo, agora trabalhando com 25 UTIs no TELESCOPE 2, um novo ensaio que divulgará seus resultados em 2026.
Os aprendizados do primeiro estudo foram incorporados. "A equipe remota passa a ser multidisciplinar. Além do médico, haverá um fisioterapeuta, um profissional de enfermagem e um farmacêutico clínico participando das reuniões diárias", conta, animado, o doutor Pereira. Também haverá uma curadoria para os gestores, ajudando a melhorar o fluxo para que não se repitam problemas como o do remédio que não entrou na lista de compras.
Todas as 25 unidades serão observadas ao longo de dois meses, antes da entrada da telemedicina. Após esse período, cinco delas passarão a contar com a equipe remota. Depois de outros dois meses, mais cinco. E por aí vai. "Desse jeito, algumas ficarão mais tempo do que outras com a tele-UTI e, com isso, conseguiremos fazer mais comparações", justifica o doutor Pereira.
O maior desafio, porém, já é previsto: não será ensinar um tratamento ou procedimento e, sim, resolver velhos problemas de comunicação.










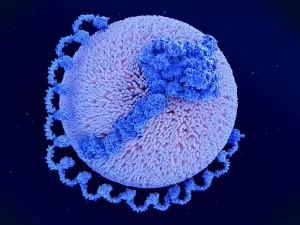


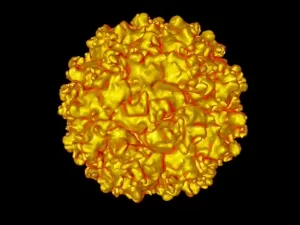






Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.