A nova era dos testes genéticos para avaliar o risco de câncer de mama
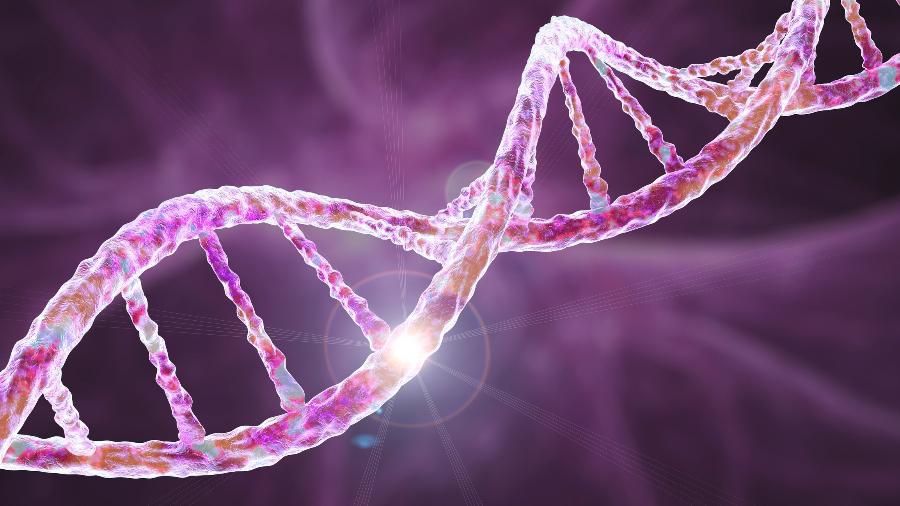
Existem genes que, sabidamente, aumentam o risco de uma mulher, mais dia, menos dia, receber a notícia de ter um câncer mamário. Dois deles são exemplos mais conhecidos, o BRCA 1 e o BRCA 2. Pudera! Há onze anos, ganharam as manchetes quando a atriz Angelina Jolie descobriu uma mutação neles e resolveu se precaver retirando as mamas.
Tanto o BRCA 1 quanto o BRCA 2 produz proteínas que reparam o DNA danificado de uma célula maligna quando ela acaba de surgir. Com o conserto, o mal é logo suprimido e não segue adiante. No entanto, se um desses genes apresenta mutações, a reparação não acontece e a doença pode ir em frente.
Embora essa dupla seja, de longe, a mais a ameaçadora, é claro que os painéis genéticos para examinar esse risco não ficam atentos só nela, mas em um número de uns 30 a 100 genes que também carregam a receita de proteínas. Ou seja, esses testes sequenciam o que os geneticistas chamam de regiões codificantes do nosso DNA. Ao menos, vinha sendo assim.
"Quando mulheres com um câncer de mama queriam saber se ele era hereditário, fazendo um painel genético desses encontrávamos um resultado positivo em 12% dos casos, mais ou menos", explica David Schlesinger. Médico com doutorado em genética, ele é CEO da Mendelics, laboratório brasileiro especializado nesse tipo de exame. "E, por sua vez, em uma parcela significativa das pacientes com resultado positivo, existia de fato a indicação de uma mastectomia bilateral no lugar de só retirar a mama doente", diz ele.
Sem dúvida, esse é o tipo de informação capaz de fazer uma diferença de vida e morte. E, nos últimos anos, o que se viu foi uma corrida entre os laboratórios para oferecer testes melhores. Como? "Adicionando genes", responde Schlesinger. Mas será que sempre valia a pena? Eis a questão.
Um painel vasculhava quarenta genes e posava de superior a outro, que escrutinava só trinta genes codificantes, por exemplo. Só que quantidade não é tudo. "Depois dos primeiros vinte — que são, digamos, os principais —, encontrar mutações em cada novo gene codificante que você vai adicionando é ultra raro. Portanto, na prática não havia um ganho de informação", observa Schlesinger
Ele e seus colegas de laboratório resolveram, então, repensar nessa história. "Primeiro, focamos naqueles genes que, pela nossa experiência, apresentavam mais diagnósticos positivos na população do nosso país", conta Schlesinger. Esse não é qualquer detalhe: considerar as características genéticas da mulher brasileira.
Outro pulo do gato foi olharem para os íntrons, regiões do nosso material genético que não codificam proteína alguma e que, injustamente, já receberam o apelido pejorativo de DNA-lixo.
Hoje se sabe que os tais íntrons de lixo não têm nada. Eles ajudam a regular as regiões codificantes e, por isso, se sofrem mutações, também são capazes de contribuir para o aparecimento de doenças, como o câncer de mama hereditário.
Para entender tamanho do risco
Cerca de 15% do risco de a mulher herdar um câncer de mama é monogênico, isto é, tem a ver com a mutação de um único gene. Mas outros 30% a 40% têm a ver com fatores poligênicos, quer dizer, com mutações bastante frequentes entre nós e que, sozinhas, não têm força suficiente para colocar a saúde em perigo. Cada uma delas interfere bem pouquinho na ameaça de um câncer de mama. Uma pode aumentá-la em ínfimo 0,5%. Outra, nem isso. O que conta, porém, é o conjunto da obra.
"Uma mulher que apresenta um número pequeno dessas variantes, ou mutações, costuma apresentar um risco baixo. Já outra pode combinar várias delas, o que leva o seu risco para o alto", explica Schlesinger. "Quer ter uma ideia? Aquelas que somam muitas dessas mutações têm duas vezes mais risco de câncer de mama que o restante da população. E 1% delas, com altíssimo risco, chega a ter uma probabilidade de adoecer 3,5 vezes maior", diz ele.
Em casos assim não costuma haver indicação de mastectomia bilateral. Porém, a necessidade de um monitoramento mais próximo da saúde das mamas fica evidente. Bom esclarecer que a informação de risco poligênico nunca deve ser considerada isoladamente. Os médicos costumam inseri-la em calculadoras, que, além da genética, levam em conta a idade da primeira menstruação e a da entrada na menopausa, sem contar o histórico familiar, entre outras coisas.
"Aliás, quando o risco hereditário existe e é importante, a gente sempre deve pensar no restante da família", opina o geneticista, especialista em oncogenética, Danilo Viana, também da Mendelics. "Isso vale para variantes monogênicas, que os painéis tradicionais já apontavam, e para as poligênicas." Na prática, quando o sequenciamento genético aponta risco, o ideal seria que as parentes de primeiro grau fizessem o mesmo exame.
Os genes das brasileiras
Uma mutação monogênica — como a do BRAC 1 ou BRAC 2 — que faz um estrago sozinha, independe da genética da população. Uma vez encontrada, é igualmente perigosa para as mulheres do Brasil, dos Estados Unidos, de Angola, da China e de qualquer outro canto do planeta.
No entanto, a coisa muda de figura quando estamos falando na soma daquelas mutações que, isoladamente, acrescentariam muito pouco risco. "Aí, a frequência e o peso de cada combinação pode ser diferente conforme o país ou a região do globo", nota o doutor Viana.
E não podemos nos esquecer que o Brasil é um país peculiar. Ora, 75% da nossa gente têm duas ou mais ancestralidades. Essa mistura maravilhosa, no que dizia respeito aos painéis genéticos, deixava pairando uma incógnita: "Será que determinado escore de risco poligênico — ou PRS. como costumamos chamar —funcionaria aqui?", lembra de questionar Schlesinger.
A Mendelics testou vários para validar os dados em cima das informações genéticas das brasileiras, algo que consumiu cerca de um ano e meio de trabalho intenso e que foi apresentado no último congresso da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica). No final, implementaram um painel capaz de combinar nada menos do que 3 mil mutações ou variantes genéticas relevantes entre nós.
O impacto no rastreamento
Painéis genéticos assim poderão impactar até no rastreamento do câncer. O doutor Danilo Viana usa dados de um estudo finlandês para exemplificar. "Hoje, a saúde pública considera interessante pedir a mamografia para mulheres acima de 50 anos porque, a partir dessa idade, o risco de surgir um tumor mamário é de 2%. E, na Finlândia, é parecido", informa. "Porém, olhando para o escore de risco poligênico, os cientistas perceberam que, nas finlandesas com muitas mutações, esse risco de 2% começa por volta dos 42 anos. Esse grupo deveria estar se submetendo à mamografia mais cedo."
O contrário também é verdadeiro: nas finlandesas com escore de risco baixo, os 2% de probabilidade de ter um tumor mamário só aparecia tardiamente, com mais de 60 anos. Logo, em tese elas poderiam aguardar um pouco mais para iniciarem o rastreamento com a mamografia.
Mudança no jeito de prevenir e tratar
O oncologista e oncogeneticista Rodrigo Guindalini, da Rede D'Or, reconhece o valor do escore de risco poligênicos, mas volta a lembrar de genes que, em matéria de ameaça, valem por muitos — citando, de novo, o BRCA 1 e o BRCA 2 como os maiores exemplos.
Em janeiro deste ano, a ASCO (American Society for Clinical Oncology) e a SSO (Society of Surgical Oncology), nos Estados Unidos, publicaram uma diretriz bastante arrojada: "Eles recomendam testar toda e qualquer mulher com tumor de mama abaixo dos 65 anos e, a partir dessa idade, aquelas com maior risco de câncer hereditário, como as que têm histórico da doença na família", conta Guindalini.
Desse modo, os testes genéticos passam a ser realizados em oito de cada dez americanas com esse câncer. "Com a estratégia, eles pretendem revelar 99% dos casos com mutações de BRCA1 e 2", diz o oncologista. "E isso é importantíssimo porque são genes que mudam a conduta na hora de prevenir e tratar", informa. "Em vez de fazer uma cirurgia conservadora, o médico retira todas as glândulas mamárias, até as que estão sadias", exemplifica.
A mulher também pode decidir por retirar ovários e tubas — que, afinal, também podem desenvolver um câncer por conta de mutações nesses dois genes. "E isso, por sua vez, diminui o risco de mortalidade do tumor de mama, por reduzir os hormônios femininos", conta Guindalini.
Risco monogênico ou risco poligênico, uma coisa é certa: não dá mais para pensar em câncer de mama sem olhar para o quanto os genes nos protegem ou nos colocam de vez sob essa ameaça.









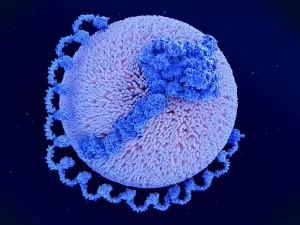


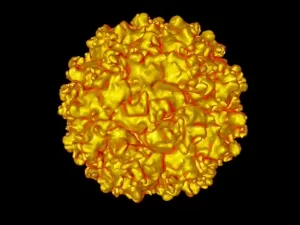







Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.