'Minha dor foi reconhecida': como maternidades acolhem quem perde um bebê

Quando não foi possível salvar a pequena Celeste, o que ficou na memória foi o acolhimento. Mari Sciotti, 37, lembra-se dos pequenos gestos —uma enfermeira que lavou seus seios com cuidado para que o leite não descesse, de uma luz que foi apagada no momento certo— e também é grata por toda a atenção recebida na maternidade em que sua filha nasceu e morreu.
Com 38 semanas de gestação, em pleno dia das crianças, Mari começou a ter contrações inesperadas e precisou correr para o hospital. Ela deu entrada na emergência de uma maternidade de luxo, em um bairro nobre de São Paulo, agora em 2022. A equipe fez todo o possível, mas Celeste não resistiu.
"Eu não tive nenhum tipo de aviso prévio de que isso ia acontecer. Minha filha não tinha nenhuma síndrome. Foi completamente inesperado. Vi toda a equipe trabalhando com a intenção de salvá-la e, quando isso não foi possível, percebi que estavam todos comovidos com a perda da bebê", diz.
No centro cirúrgico, assim que avisaram Mari e seu marido de que não foi possível reanimar Celeste, ela se lembra das luzes rapidamente baixarem e da sala, antes tão movimentada, esvaziar, deixando os pais sozinhos com a filha para iniciarem o processo do luto. A mãe de Mari foi liberada para entrar na sala e outros parentes foram chamados, podendo entrar conforme foram chegando, para se despedir.
"Eles me entregaram a bebê e eu fiquei em contato com ela o tempo inteiro. O pessoal do hospital foi muito discreto. Logo depois que eles fizeram tudo o que lhes cabia, se retiraram e eu fiquei só com pessoas da minha família ou da minha equipe. Minha irmã e meu pai foram avisados e também puderam entrar, pegar minha filha, vê-la. O processo de sair da sala do centro cirúrgico em nenhum momento foi acelerado."
Cada hospital tem uma diretriz
Não existe uma diretriz nacional que oriente quais as boas práticas a serem adotadas e seguidas por profissionais de saúde em casos de perda neonatal ou gestacional. Assim, cada instituição ou profissional envolvido escolhe como proceder.
O hospital onde Mari fez o parto segue diretrizes similares às adotadas no Canadá e na Inglaterra, países referência no assunto. "Deu para ver que estavam todos treinados, foi um protocolo pensado", diz ela. A equipe, entretanto, não quis comentar o assunto.
É óbvio que ninguém entra em uma maternidade esperando passar por um protocolo de luto, mas isso acontece. Então as instituições precisam ter um mapa de condução já pronto para que todos estejam preparados para quando acontecer essa coisa que ninguém quer que aconteça. Mari Sciotti.
Enquanto Mari foi rapidamente levada para uma ala do hospital longe de outras mães e bebês, o mesmo não aconteceu com Daniel Carvalho, 41, e sua esposa. Quando sua filha Joana nasceu, ela teve complicações no parto e passou seis dias na UTI neonatal de um hospital particular, no Rio de Janeiro, mas não resistiu.
Nesse período, eles ficaram na mesma ala de outras mães e gestantes. "Ficamos no hospital ao lado de famílias que estavam tendo seus filhos normalmente. Em um dos dias que estávamos lá lutando pela vida da Joana, escutamos um parto, no quarto ao lado do nosso", conta.
Além disso, as enfermeiras mantiveram sua programação normal. "Elas entravam no quarto com todo o equipamento, dizendo 'vamos aprender a dar de mamar', ensinar a dar banho, essas coisas. Isso com a Joana lá na UTI. É uma situação muito esquisita para quem está vivendo aquilo", lembra Daniel, que hoje coordena o projeto "Luto do Homem", um grupo de apoio para pais enlutados.
Memória preservada
O relato de Mari e Daniel dialoga diretamente com a pesquisa da psicóloga Heloisa de Oliveira Salgado, que desenvolveu um protocolo com diretrizes para o atendimento durante o luto perinatal no Brasil, como parte de seu pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo).
Entre as coisas que Salgado elenca como essenciais a serem oferecidas pelos hospitais às famílias enlutadas estão:
- acolhimento psicológico;
- coleta de memórias da criança;
- direito à privacidade em um quarto isolado de outras famílias.
Além disso, ela reforça a importância do treinamento das equipes para a padronização do comportamento, de modo a não constranger os familiares a nada e sempre buscar preservar as memórias daqueles pais com a criança, não negando sua existência.
O óbito acontece e vai acontecer, mas as instituições não estão preparadas. O que vemos aqui no Brasil, na maior parte das maternidades, é muito ruim. O modo como lidamos com o luto é algo cultural e que precisa ser trabalhado —e mudado—, aos poucos. Heloisa de Oliveira Salgado, psicóloga.
Muitos profissionais de saúde, na experiência da pesquisadora, tratam as práticas de luto perinatal como algo mórbido. "Algumas pessoas acham mórbido segurar bebê morto, dar banho no bebê morto, tirar foto com ele. Então, em geral, a implementação de novos comportamentos nas instituições depende de iniciativas pessoais, e aí varia muito de lugar para lugar."
Porém, na vivência dos pais enlutados, esse contato com a criança faz toda a diferença. Salgado conta que, mesmo anos depois, várias famílias lamentam por não terem tido contato ou se despedido de bebês que nasceram sem vida. "Acredito que essa é a grande questão do luto perinatal: os pais têm poucas ou quase nenhuma lembrança da criança e isso faz falta no processo de luto", diz.
No caso de Mari, ela percebeu que a diretriz usada pela maternidade é baseada em não ignorar a morte, não tentar poupar a mãe do contato com um bebê que existiu e, portanto, exige uma despedida como qualquer ente querido.
A gente não é preparado para a morte. Mas ali senti que fui acolhida, eles receberam a morte com beleza, com cuidado, e pude criar lembranças e me despedir da minha filha. Um lugar que recebe a vida tem que estar preparado para a morte. A gente só entende o valor disso quando passa por essa experiência. Mari Sciotti.
O acolhimento recebido ainda na maternidade, na visão de Mari, foi fundamental para a forma como ela tem lidado com o processo de luto. "Foi um lugar que me fez ter muita segurança e me acolheu no momento mais vulnerável da minha vida. A memória dessa história tem uma narrativa bonita porque a instituição permitiu que tivesse."
Equipe do hospital também sofre
Quando Rafaela nasceu, sua mãe, Helena Dani, 41, já sabia que a menina tinha uma síndrome que poderia causar vários problemas. A menina desenvolveu uma cardiopatia e precisaria ser operada, mas era muito pequena para o procedimento. A menina foi liberada para esperar em casa e, um dia, teve uma falta de ar aguda, que fez os pais correrem para o hospital. "Quando ela morreu, a médica me disse: isso aqui para nós é uma derrota, perder um bebê é uma derrota para mim e para minha equipe", conta Helena, que foi atendida em um hospital público no Rio Grande do Sul.
Essa médica pediu para que a mãe se despedisse da bebê e permitiu que a família ficasse o tempo que fosse preciso com a menina. Ainda assim, as informações prestadas sobre a morte foram vagas. "Só falavam que a Rafaela teve uma parada cardíaca, mas a gente não entendia direito o que tinha acontecido."
Além disso, o tratamento foi muito desigual. Depois do atendimento malsucedido, ela e o marido ainda precisaram passar um bom tempo no hospital até que o corpo da filha fosse liberado. "A médica plantonista foi bem acolhedora, mas depois disso foi algo desproporcionalmente ruim, foi horrível", conta, relembrando a experiência com a equipe do necrotério do hospital.
A psicóloga Gabriela Gehlen, especialista em intervenções em luto, trabalha em seu doutorado pela UFRGS (Universidade federal do Rio Grande do Sul) na criação de um protocolo para a capacitação de profissionais da saúde, para que eles possam acolher e orientar os pais nesse processo. "Principalmente nesses espaços em que a morte circula, é preciso um cuidado especial com esses profissionais. Você vê a morte o dia todo, todos os dias, então há um desgaste natural e isso pode levar a uma falta de cuidado com o paciente", explica.
As equipes hospitalares, segundo ela, precisam criar o espaço necessário para que a família possa ter seu luto validado, mas também é preciso que a instituição esteja preparada para acolher a dor de seus profissionais. "Se a gente não cuida do profissional que vivencia a morte diariamente, a gente não vai conseguir cuidar da família", diz Gehlen.
Ela lembra que os enlutados são pessoas que estão confusas e com raiva. "Não é um corpo, não é um lixo hospitalar que vai ser descartado, é o amor da vida de alguém", diz, ao comentar sobre a importância de humanizar o atendimento.
Rerinton Santos, 39, viveu de perto esse distanciamento quando sua filha Natalie estava para nascer. Com apenas 27 semanas, sua esposa entrou em trabalho de parto e, com uma dilatação muito grande, não havia outra solução além do parto. "A primeira médica que nos atendeu disse que ela não podia nascer, porque não ia sobreviver. Já soltou essa bomba na nossa mão", lembra.
A menina passou 64 dias em um hospital público de Pelotas (RS), acabou pegando uma bactéria hospitalar e não resistiu. Nesse período, Rerinton conta que viu que a equipe da UTI neonatal também sofria. "Foram dois meses tentando. No hospital, são várias equipes. Alguns acolhiam, outros estavam mais no automático."
Você pensa no nome, monta um quarto? Você cria um espaço para três, aí a criança sai da barriga, mas vocês continuam sendo só dois. Rerinton Santos.
Depois de um tempo, ele acredita que o vazio deixado pela morte da filha e a falta de acolhimento profissional foram os principais motivos para que ele e a esposa acabassem se separando.
Como cuidar de quem fica?
Existe um projeto de lei (PL 1640/2022) tramitando na Câmara dos Deputados que propõe a inclusão do tema na lei que regulamenta o funcionamento do SUS (Lei nº 8.080/1990). Além de incluir a atenção a mulheres que tenham sofrido perda gestacional, somou-se ao projeto inicial a criação de uma Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental.
Na esfera local, existem pequenos avanços. A ONG Amada Helena, do Rio Grande do Sul, é uma dos grupos de acolhimentos a mães e pais enlutados que trabalha com a questão, pressionando o poder público por um tratamento acolhedor unificado. Por lá, eles conseguiram aprovar em outubro de 2022 a Lei Helena Maffini (Lei Nº 15.895/2022/RS), que estabelece procedimentos a serem adotados nos casos de perda gestacional, natimorto e perda neonatal nos serviços públicos e privados de saúde.
A presidente da ONG, Tatiana Maffini, 41, conta que demorou muito tempo para processar e lidar com a perda de sua filha. Helena nasceu com um sopro cardíaco e morreu com 17 dias de vida, em 2012, à espera de uma vaga em uma UTI neonatal.
Ela conta ter tido muita dificuldade em se comunicar com os médicos e equipes envolvidas no cuidado de Helena. E, mesmo após a morte da menina, encontrou resistência em profissionais e até familiares para falarem sobre o assunto. "As pessoas que lidaram comigo não eram ruins, mas eram desinformadas", diz.
Mônica Venâncio, psicóloga do Hospital Universitário da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e responsável pelo ambulatório de luto da instituição, recomenda que os profissionais sejam sempre acolhedores com o choro e com o sofrimento dos pais. "Alguns dizem que a pessoa é jovem, que pode tentar de novo. Isso é totalmente inadequado e é muito difícil de ser escutado pelos pais, como se fosse possível substituir um filho por outro."
Passados mais de 10 anos desde que Helena morreu, Tatiana teve outros dois filhos e diz que o amor por um não afeta o espaço destinado aos outros dois: "É igual ir abrindo quartinhos no seu coração, não se tira nada de ninguém. Cada filho tem o seu quartinho de amor."
Instale o app de VivaBem em seu celular
Com o nosso aplicativo, você recebe notificações das principais reportagens publicadas em VivaBem e acessa dicas de alimentação, saúde e bem-estar. O app está disponível para Android e iOS. Instale-o agora em seu celular e tenha na palma da mão muitas informações para viver mais e melhor!















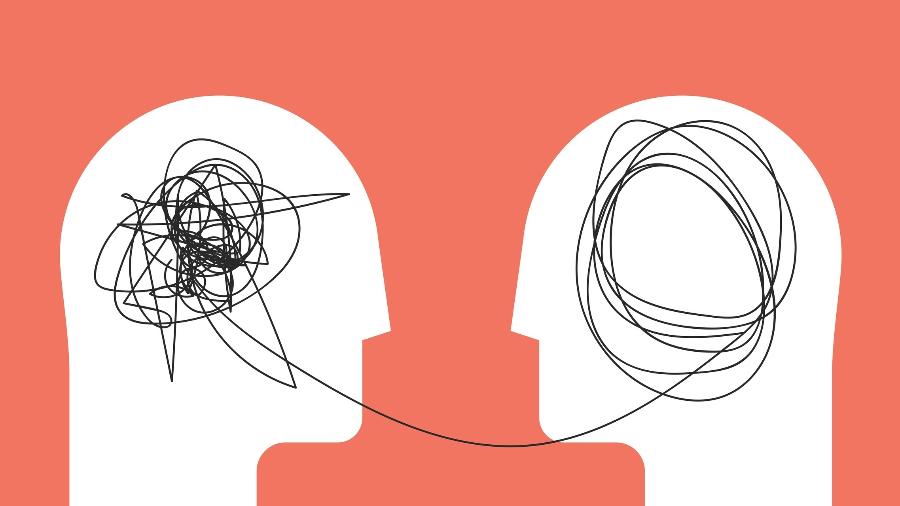



ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.