Dores, contaminação: pesquisas buscam entender doenças que afetam indígenas

O vale do Javari, no oeste do Amazonas, tornou-se tema do noticiário no mundo todo em junho de 2022 com a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, assassinados por investigar crimes ambientais na região. Os relatos sobre a situação dramática no local impressionaram a enfermeira Eliseth Ribeiro Leão, pesquisadora do Einstein, em parte porque ela conheceu de perto aquele cenário em circunstâncias muito diferentes.
Na década passada, ela e sua colega Elaine Barbosa de Moraes, na época orientanda de mestrado de Leão, tinham visitado a região para um estudo pioneiro sobre como diferentes grupos indígenas do Javari lidavam com dores no corpo ou de cabeça. "Passamos por todos os lugares ligados ao caso do Dom e do Bruno. Às vezes a gente, conversando, até se pergunta 'Nossa, será que a gente esteve lá mesmo?'. Porque essa é a sensação que a gente tem: parece outro lugar, outro país", conta ela.
Esse abismo entre o resto do Brasil e grande parte das populações indígenas da Amazônia e de outros lugares se reflete também nas condições de saúde. O trabalho das pesquisadoras do Einstein, que incluiu ainda visitas a comunidades de povos originários do Acre, mostrou que a prevalência de dores lombares é quase três vezes maior entre os indígenas amazônicos do que na população brasileira como um todo, enquanto a de dor de cabeça é quase o dobro.
Levantamentos recentes indicam que um quadro semelhante se aplica não apenas à dor como também a outros indicadores de saúde, espelhando problemas que afetam grupos indígenas de maneira generalizada mundo afora. Ricardo Ventura Santos, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), lembra que um estudo publicado na revista The Lancet em 2016, sob coordenação de Ian Anderson, da Universidade de Melbourne, na Austrália, traçou um panorama amplo do problema em nível global.
"É um estudo do qual participamos também, que faz uma comparação entre os indicadores de saúde dos povos indígenas e o que eles chamam de benchmark population, que são as populações nacionais não indígenas de cada lugar", explica.
No trabalho, que levou em conta informações sobre 28 povos originários de 23 países diferentes, Anderson e seus colaboradores verificaram diferenças sistemáticas —com os grupos indígenas em posições desfavoráveis quando comparados a pessoas não indígenas— em quesitos como expectativa de vida ao nascer, mortalidades infantil e materna, desnutrição infantil e obesidade infantil e adulta. "Penso que esse seja o trabalho mais importante e abrangente dos últimos dez anos sobre o tema", diz o pesquisador da Fiocruz.
Marcas do colonialismo
Os fatores que explicam essa disparidade, no que diz respeito aos problemas de saúde pública das comunidades indígenas brasileiras, são complexos e variados, mas todos estão ligados, em alguma medida, ao histórico de colonialismo e exclusão social que afetou esses povos desde a chegada dos europeus - e se intensificou ao longo do último século, em especial no caso das etnias amazônicas.
Para começar, a perda sistemática de territórios tradicionais para madeireiros e fazendeiros e a contaminação de rios pelo garimpo teve grande impacto sobre os meios de subsistência dessas populações, pondo em risco sua segurança alimentar e, portanto, também sua saúde.
Além disso, tal como aconteceu com todos os demais nativos das Américas, os indígenas brasileiros, de início, não tinham nenhum tipo de imunidade contra doenças infecciosas do Velho Mundo, derivadas principalmente de zoonoses de animais domésticos que nunca tinham sido criados do lado de cá do Atlântico.
Isso desencadeou uma elevada proporção de mortes por essas doenças desde as primeiras décadas de contato com os portugueses. Estimativas feitas por arqueólogos como Eduardo Góes Neves, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), indicam que a população amazônica anterior à invasão europeia pode ter chegado a 10 milhões de habitantes, o grosso dos quais deve ter perecido por causa das doenças infecciosas nos primeiros séculos após 1500.
Porém, esse processo ainda acontecia com alguma frequência nos anos 1960-1970, quando as iniciativas de exploração econômica e ocupação geopolítica da Amazônia estimuladas pela ditadura militar produziram surtos letais de moléstias como sarampo e gripe entre grupos recém-contatados. A presença contínua de comunidades isoladas na região ainda hoje faz com que essa possibilidade não tenha desaparecido totalmente.
Além disso, nas últimas décadas, mesmo etnias com um histórico relativamente curto de contato com a sociedade não indígena estão atravessando o que pode ser classificado como uma transição alimentar.
Transformações econômicas no entorno das terras indígenas, incluindo a maior facilidade de transporte e comunicação e a integração de membros desses grupos ao mercado de trabalho e a programas assistenciais, podem estimular a incorporação de produtos industrializados na dieta. Isso tende a aumentar o consumo de alimentos baratos, ricos em carboidratos e de baixo teor nutricional (macarrão, refrigerantes etc.), o que tem levado a uma maior frequência de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes.
Pesquisa genética
Nas últimas décadas, alguns estudos têm buscado investigar se a vulnerabilidade das populações indígenas a esses problemas está ligada a um componente genético, levando em conta a história evolutiva separada de seus ancestrais nas Américas durante os últimos 15 mil anos. Por enquanto, as pistas são poucas. "É importante salientar que são populações muito negligenciadas e que ainda temos poucas respostas sobre genética e saúde indígena", pondera Tábita Hünemeier, pesquisadora do Instituto de Biociências da USP.
De acordo com ela, no caso das doenças que têm crescido graças ao consumo de alimentos industrializados, já há alguns estudos apontando a presença de variantes genéticas que favoreceriam esse tipo de problema. Entre elas está uma versão do gene ABCA1, ligado ao metabolismo do colesterol, objeto de um estudo de 2011 do qual Hünemeier é coautora. "Ele é o único que mostra uma variante exclusiva de nativos das Américas que leva a tais fenótipos, mas existem outros que mostram uma frequência mais alta de variantes que favorecem tais doenças em indígenas", explica.
Maria Cátira Bortolini, geneticista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coautora da pesquisa sobre o ABCA1, diz que seu grupo está buscando envolver alunos indígenas da universidade nos projetos sobre o tema. "Uma estudante Kaingang do curso de odontologia deve trabalhar conosco num projeto sobre metagenômica oral [ou seja, os genomas das populações de organismos da boca]", conta. "Vejo isso com grande entusiasmo."
Considerando que outros grupos mundo afora também têm suas próprias vulnerabilidades genéticas diante da alimentação calórica, Ventura Santos diz que é preciso cautela diante desse tipo de dado. "Muitas vezes, isso acaba atraindo mais atenção do que os modelos de determinantes sociais do processo da doença", analisa.
Em um levantamento publicado recentemente pelo pesquisador e outros colegas da Fiocruz na Oxford Research Encyclopedias of Global Public Health, fica claro o impacto desses determinantes, bem como o fato de que houve melhoras significativas na saúde pública indígena nas últimas décadas, apesar dos grandes problemas que ainda persistem.
Um caso que ajuda a ilustrar isso é o dos Suruí-Paiter, de Rondônia, acompanhados pelos pesquisadores da Fiocruz desde os anos 1980. Dados de 1987 mostravam que quase metade das crianças Suruí com até 9 anos de idade apresentava baixa altura, um indicador ligado a uma série de outras variáveis do desenvolvimento infantil.
Em 2005, porém, a proporção de meninos e meninas da etnia nessa categoria caiu para um quarto do total, enquanto o sobrepeso infantil começou a ser detectado nessa população (em 3,9% das crianças). "Esses achados foram importantes para motivar a formulação de uma política nutricional para os povos indígenas do Brasil, assim como para mostrar que as crianças indígenas não são 'naturalmente' de baixa estatura, como muitos ainda acreditam", escrevem os autores. Eles destacam ainda avanços na vacinação e na diminuição da mortalidade infantil, em parte graças à criação, em 1999, do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Dores no corpo
No caso do levantamento sobre dor feito pelas pesquisadoras do Einstein, que saiu em 2021 no Journal of Pain Research, o impacto da assistência médica se mistura com o de estratégias tradicionais para aliviar a dor. Entre os 90 participantes do estudo, pertencentes às etnias Matis, Marubo, Kanamary, Ashaninka, e Huni Kuin, tanto os medicamentos usados por não indígenas quanto a medicina tradicional de cada cultura eram usados por cerca de 70% das pessoas. "Vemos um uso frequente de preparados tradicionais que têm uso tópico", conta Eliseth Leão.
Para a pesquisadora, o esforço físico constante ditado pelo estilo de vida nas comunidades indígenas ajuda a explicar a alta prevalência de dores no corpo, bem superior à média brasileira. "Eu me lembro de um senhor já idoso, agachado e cavando a terra com as mãos mesmo, enchendo uma bacia de alumínio com a terra, jogando-a em outro lugar e voltando para cavar mais", diz ela.
"As mulheres também carregam muito peso, desde roupas para lavar no rio até crianças. Certa vez, eu falei disso com uma delas e ela respondeu brincando: 'Nossa, você é muito fraquinha, né?'. Então, ao que parece, há um certo estoicismo ali, um limiar de enfrentamento da dor que é mediado pelas questões culturais", analisa a pesquisadora.
Segundo Leão, o plano é realizar ainda uma terceira expedição, ampliando o leque das etnias estudadas. A verba para o projeto, vinda de um doador do Einstein, inclusive já está alocada para isso, mas a pandemia de covid-19 atrapalhou os planos da equipe. A doença afetou fortemente as comunidades indígenas brasileiras, que precisaram se mobilizar juridicamente para que fossem incluídas nos grupos prioritários para vacinação.
"As pessoas conhecem muito pouco a situação - a gente vive como se eles não existissem. Quem está num lugar que privilegia a geração do conhecimento, como o Einstein, tem a responsabilidade de trazer um pouco de luz sobre tudo isso", diz ela.












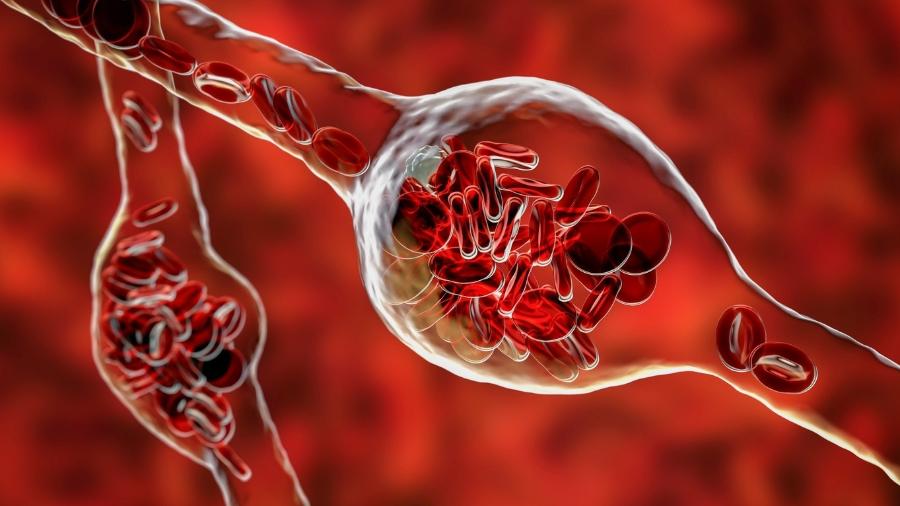






ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.