Por que não se fala mais que nível de autismo é leve, grave ou moderado?

A atriz Letícia Sabatella contou, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, que foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista, ou TEA, aos 52 anos.
"Ainda é um pouco antecipação eu falar, mas descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista que estou dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, chamado de Asperger, que é ativa e passiva nesse tempo", disse.
A "síndrome de Asperger" foi, por muitos anos, o nome dado ao grau mais leve de autismo. Era um quadro considerado menos grave, com baixa necessidade de suporte e geralmente vinha acompanhado de QI alto ou altas habilidades intelectuais. Recebeu esse nome porque foi inicialmente descrita por Hans Asperger, um pediatra austríaco, em 1944.
Mas, desde a atualização do manuais clínicos DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) e CID (Classificação Internacional de Doenças), que ocorreram há cerca de uma década, Asperger e outras terminologias utilizadas para descrever o espectro do autismo deixaram ou estão deixando de ser usadas.
Com o avanço dos estudos sobre o autismo, ficou claro que é tudo uma coisa só, ou seja, mesmo com classificações distintas, essas pessoas tinham características semelhantes, mas com graus de comprometimentos diferentes. Surgiu aí a ideia de "espectro".
O que mudou?
Não foi apenas a síndrome de Asperger. Antes da atualização dos manuais clínicos, o espectro autista teve diversos nomes: transtorno autista, autismo atípico, transtorno global de desenvolvimento, e por aí vai (sim, foram muitos).
Na verdade, todos eles descreviam a mesma coisa: um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete o indivíduo desde pequeno e é levado por toda a vida.
Esses quadros têm características marcantes em comum, como dificuldade de relacionamentos (deficiência social), dificuldade ou atraso na fala e interesses e/ou comportamentos restritos e/ou repetitivos.
A diferença mora no grau de comprometimento de cada pessoa. Enquanto algumas tinham dificuldades discretas e eram até consideradas —de forma estereotipada— gênios, outras tinham um grau de comprometimento tão grande que necessitavam de suporte para coisas básicas, como comer e tomar banho.
Foi justamente por causa dessa percepção que os manuais DSM-5 (publicado em 2013) e CID-11 (de 2022) unificaram o conjunto de sintomas atribuídos ao autismo em um único nome: o transtorno do espectro autista, ou simplesmente TEA.
Novo nome, nova classificação
Embora seja considerado mais amplo, o espectro do autismo hoje é também visto como uma evolução no diagnóstico do transtorno —já que é possível estabelecer que um conjunto de sintomas e sinais podem se manifestar de formas diferentes, e em graus distintos, em cada indivíduo.
Para alguns especialistas, isso explica, em parte, o aumento no número de diagnósticos de TEA. É o que diz um artigo, publicado em 2017 na revista Scientific American, tratando sobre a elevação de diagnósticos nos EUA nos últimos anos.
Além da mudança na nomenclatura, os manuais trouxeram também uma nova escala de avaliação com base no nível de dependência de cada pessoa. Ficou assim:
Nível 1: popularmente conhecido como "leve", quando o indivíduo precisa de pouco suporte de outro adulto para realizar tarefas.
Nível 2: o nível "moderado", cujo grau de suporte necessário é razoável. Aqui, é possível enxergar dificuldades maiores de comunicação, por exemplo, e maior necessidade de terapia para superar as limitações.
Nível 3: conhecido como autismo severo, quando o indivíduo necessita de muito suporte de outro adulto e dificilmente conseguirá ser independente.
Qual a importância disso?
Na opinião dos especialistas ouvidos pelo VivaBem, a mudança da nomenclatura é importante pois ajuda a encaixar mais pessoas no diagnóstico do espectro.
Isso porque as novas definições compreendem o autismo como algo plural, com diferentes possibilidades de acometimento e funcionalidade e com considerações particulares para cada indivíduo.
Isso é importante tanto para as crianças, que podem receber cuidados mais direcionados de forma precoce, como para os adultos, que podem finalmente fazer parte de um grupo e dar um nome para aquilo que os tornava "diferentes" dos demais, e buscar tratamentos específicos para melhorar a sua qualidade de vida.
Fontes: Alice Munguba, especialista em clínica psicanalítica infantil da clínica Holiste Psiquiatria, em Salvador (BA); Adélia Henriques Souza, médica da SBNI (Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil) que atua no Hospital da Restauração e do IMIP, no Recife (PE); Caroline Toledo, psicóloga na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo; Danielle H. Admoni, psiquiatra preceptora na residência da EPM-Unifesp e especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria); Marcus Tulius, neurologista do CHN, no Rio de Janeiro, e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz; Rodrigo Fock, médico geneticista da DASA Genômica com atuação em TEA.










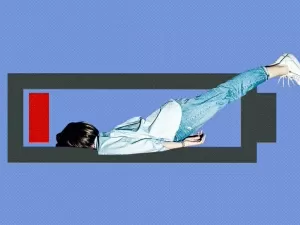








Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.